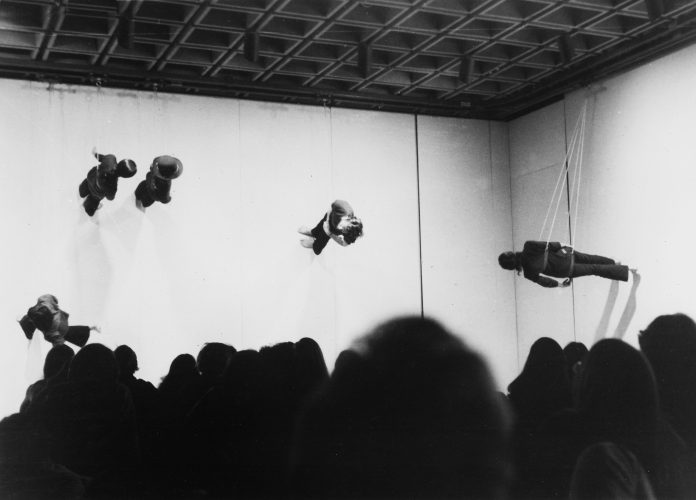No rastilho dos protestos contra o assassinato de George Floyd pelo policial racista nos Estados Unidos, prosperaram ações iconoclastas, naquele e em outros países. No Brasil, se a iconoclastia (ainda) não vingou como corolário dos protestos contra a morte de Floyd (e de centenas de outros Floyds, mortos e mortas todos os dias por aqui), pelo menos o debate foi reiniciado. Volta-se a discutir a pertinência de se manter monumentos a notórios predadores e traficantes de seres humanos em nossas praças.
Se hoje lembramos do bandeirante quando tratamos de morte e tráfico de pessoas, não faz muito tempo sua figura era associada ao que de mais intrépido podia existir na “alma brasileira” (e não apenas paulistana). Para muitos, o Brasil deveria agradecer ao bandeirante pois teria sido por sua “bravura” que o país conseguiu estender seu território para além do antigo Tratado de Tordesilhas[1].
O bandeirante – atuante nos primeiros trezentos anos da colonização –, foi recuperado no início do século XIX quando, frente à chegada e rápido empoderamento de adventícios, os paulistas encetaram seu resgate. Essa recuperação acabou se ampliando com o tempo por dois motivos: primeiro, devido à chegada cada vez mais intensa de hordas de imigrantes vindos de todos os lugares do mundo e não apenas de Portugal. Contra esses “invasores” que ameaçavam as tradições locais, o culto aos antigos. Também era necessário justificar o protagonismo da elite paulista nos destinos do Brasil já do início do século XX. Assim, nada mais adequado do que associar a “audácia” dos bandeirantes de ontem àquela dos “novos” bandeirantes. Vários membros dessa elite acreditavam nessa narrativa que os unia aos antigos pioneiros. Assim, diante das más influências do “imigrantismo” e daqueles que contestavam a supremacia “histórica” dos paulistas, eles entendiam que era necessário tornar palpável aquela ficção. Foi o que ocorreu a Adolfo Augusto Pinto[2].
Celebrado por Almeida Jr. em pintura pertencente à Pinacoteca – Cena de família de Adolfo Augusto Pinto, 1891 –, esse engenheiro integrou as gerações dos “novos bandeirantes” paulistas, pois, após ter sido o responsável por obras de infraestrutura na cidade de São Paulo, ele galgou alta posição como responsável pela expansão da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Um “desbravador”, Pinto também se destacou como ideólogo da “paulistaneidade”: embriagado de orgulho por São Paulo, queria que a cidade fizesse jus ao fato ter sido o berço dos antigos e dos novos bandeirantes.
Já tive a oportunidade de arrolar (leia aqui) os monumentos escultóricos realizados em São Paulo que contaram com o engajamento e, muitas vezes, com a intervenção direta de Pinto[3]. Seu empenho pela tradução em granito, mármore e bronze da história idealizada de São Paulo, no entanto, nem sempre resultou em monumentos que de fato foram construídos. Porém, mesmo aqueles projetos não realizados reiteram a potência da ideologia que plasmaram, no plano simbólico, o papel de São Paulo e do paulista, como primeiros e únicos responsáveis, segundo essa visão, por tudo o que de positivo teria ocorrido no Brasil, desde 1500.
O interesse de Adolfo Pinto por São Paulo não ficou restrito à sua infraestrutura. Como corolário das benfeitorias que os governos realizavam na cidade, Pinto refletia sobre a necessidade de “aformosear” a capital, projetando soluções que, ao unir facilidade de fluxo, lazer e deleite estético, transformaria o berço dos bandeirantes num sonho, uma condensação tropical de Versailles, Roma e Florença.
Em conferência pronunciada em novembro de 1917[4], Adolfo A. Pinto tornou pública a ideia de transformar em Centro Cívico o núcleo histórico da cidade, o Pátio do Colégio[5]. Como a cidade havia nascido justamente naquele lugar – onde os padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta haviam fundado o Colégio dos Jesuítas, com o apoio do cacique Tibiriçá –, o Largo do Palácio, a seu ver, deveria ser transformado em um Centro Cívico que reverenciasse os heróis nascidos em São Paulo.
***
Adolfo Pinto inicia a conferência de 1917 estranhando a ausência de monumentos em São Paulo que homenageassem a cidade e seus heróis. Comparava a capital do Estado à situação de outras cidades brasileiras. O Rio de Janeiro, por exemplo, apresentava em suas praças, parques e museus, as efígies dos grandes brasileiros. São Paulo, nada. Segundo ele, contudo, a situação estava prestes a mudar devido ao concurso para escolher o monumento em homenagem ao centenário da Independência a ser instalado em frente ao Museu Paulista. Para o conferencista, como a independência do país ocorrera em território paulista, nada mais justo que o monumento fosse construído na cidade. Porém:
…seria fazer muito pouco do nosso passado supor que ele nasceu do grito do Ipiranga, quando é certo que então já contava três séculos de idade, e durante o maior trecho desse prazo teve a perlustra-lo a valorosa estirpe dos fundadores do Brasil colonial, nossos bravos conterrâneos dos séculos XVII e XVIII.
É igualmente certo que a epopeia bandeirante teve a sua flama na potencialidade dos elementos étnicos que colaboraram na fundação e no desenvolvimento inicial de Piratininga.
(…) havemos nós, os paulistas, de solenizar o centenário da Independência, (…) deixando que continuem sepultados em negro e desolado olvido os seus grandes fatores atávicos?[6]
Essa era uma pergunta retórica porque todos sabiam que, em 1910 ocorrera o concurso para a ereção de um monumento em homenagem à fundação da cidade de São Paulo, ganho por Amadeo Zani. A obra, produzida na Itália, já se encontrava em São Paulo, mas, encaixotada, aguardava uma solução para o Largo do Palácio, onde seria instalada.
Existiam duas possibilidades para o devir do Largo: ou os edifícios ali instalados seriam reformados ou demolidos, aumentando o espaço do largo para receber o monumento de Zani[7]. Para Adolfo Pinto a segunda alternativa era a que mais o agradava, pois ia ao encontro de seu desejo de ali constituir o Centro Cívico a que aspirava.

Para ele, aquele sítio era o símbolo da nacionalidade brasileira, constituído pela junção do português e do indígena, sob a tutela do Cristianismo e da Igreja Católica. Fora dali que São Paulo começara estender-se por outros recantos até alcançar, graças à audácia de seus filhos, territórios antes estrangeiros.
Além desse valor histórico, Adolfo Pinto chamava a atenção para outra singularidade do Largo do Palácio: de um de seus lados se descortinava uma paisagem especial, composta pela várzea do Tamanduateí – que, em breve, seria transformada no Parque do Carmo[8] –; mais adiante “a operosa colmeia industrial que hoje é o Bráz” e, em dias especialmente límpidos, as “encostas azuladas da Cantareira”:
Assim enobrecido pela natureza e pela história – como se em S. Paulo devêssemos ver reunidas em um só sítio as recordações e as belezas que Roma venera e contempla no Capitólio e no Pincio – o antigo largo do Colégio está naturalmente fadado a ver a arte levantar sobre o seu chão sagrado o monumento glorificador das figuras principais da fundação de S. Paulo[9].
Instalado no centro daquele “chão sagrado”, o autor propunha que o Monumento de Zani fosse envolto por um fabuloso jardim, à la Versailles, com fontes luminosas e bacias d’água mas com uma diferença: aproveitando o fato de São Paulo possuir uma grande capacidade hidráulica, seriam ali erguidos jatos d’água a mais de cem metros de altura, transformando os jardim francês e suas fontes, em “miniaturas”:
As famosas grandes águas de Versailles – com jatos obtidos à custa de pressão artificial e alcançando quando muito uns vinte metros de altura – […] as famosas grandes águas não passariam de modesta miniatura dos incomparáveis efeitos do mesmo gênero que aqui se poderiam obter com insignificante dispêndio.[10]
Para completar espaço tão extraordinário, Pinto propunha ainda a construção de um belvedere. Sua função seria propiciar aos paulistanos o gozo da vista panorâmica em direção a Cantareira e, ao mesmo tempo, em determinadas datas, “o prazer de admirar os mais notáveis jogos de água do mundo”. Porém, o belvedere teria uma outra atração, esta sim fundamental para a glória da cidade: uma galeria de esculturas onde estariam representados os paulistas mais ilustres!
A fonte de inspiração para esse “Pantheon dos imortais de S. Paulo” era a Galleria degli Uffizi, em Florença que, em meados do século XIX, completara um antigo projeto de colocar em sua fachada nichos com esculturas retratando os principais personagens nascidos e/ou atuantes na cidade. Para Adolfo Pinto aqueles elementos da Galleria, retratando figuras como Michelangelo, Dante Alighieri, Da Vinci e Galileo, entre outros, era um exemplo de civismo a ser seguido:
Como vedes, senhores, são brilhantes, admiráveis as figuras que povoam a galeria dos imortais de Florença, e o culto que a bela cidade italiana presta à memória de seus filhos ilustres não é só um preito às suas virtudes, é também uma sábia lição prática, intuitiva de civismo. O nobre gesto de Florença é digno de ser imitado em S. Paulo. É que, como os florentinos, também nós podemos nobremente nos orgulhar dos heróis da nossa história.[11]
Adolfo Pinto tinha dúvidas se um dia essa grande homenagem aos paulistas seria concretizada, embora não tivesse dúvida quanto à sua pertinência:
“o que (…) em minha alma de paulista, em minha consciência de patriota, eu tenho a gratíssima satisfação de reconhecer e sinto a necessidade de proclamar é que, para a glória de minha terra, nenhum povo se honra com ascendência mais digna da egrégia homenagem”[12].
Se atentarmos para os florentinos homenageados, veremos que ali abundam poetas, escritores, artistas, médicos, demais cientistas e chefes militares[13]. Já a lista de paulistas previstos para serem representados no Centro Cívico idealizado por Adolfo Pinto, teria outras características. Ela se inicia com a figura de Tibiriçá, cacique de Piratininga e guia “da sagrada falange”:
Se um dia se construir o nosso Pantheon, no chão sagrado em que nasceu a cidade, e as relíquias de um dos seus mais dedicados fundadores forem reconduzidas para o sítio do seu jazigo histórico, dirá tudo esta simples inscrição no pedestal da estátua que se erguer sobre o sarcófago: Tibiriçá, primeiro cidadão de S. Paulo.[14]
A partir de Tibiriçá, o autor elenca os paulistas que se evidenciaram como caçadores de pedras preciosas e/ou seres humanos e desbravadores de territórios: Affonso Sardinha, o primeiro dos pioneiros, responsável pela exploração das jazidas do Jaraguá; Antonio Raposo, invasor das reduções espanholas; Fernão Dias Paes Leme, possuidor de cinco mil índios escravizados, mas “com alma profundamente religiosa”; Domingos Jorge Velho, responsável pela “conquista definitiva dos Palmares”; Paschoal Moreira Cabral Leme, conquistador do território de Mato Grosso; Bartholomeo Bueno da Silva, conquistador de Goiás; Amador Bueno da Ribeira que recusou sua aclamação como rei de São Paulo[15]; Balthazar de Borba Gatto, um típico paulista, fruto da miscigenação entre os elementos indígena e português, repleto de “altivez nativa”; Belchior de Pontes, o “Anchieta do século XVII”, padre que acompanhava as bandeiras; Pedro Vaz de Barros, responsável pelo aprisionamento de dois mil e trezentos indígenas na Bahia[16].

Arrolados esses onze nomes ligados direta ou indiretamente à empresa bandeirista, Afonso Augusto Pinto dá início à listagem de outros paulistas que teriam se destacado em diversas atividades e que mereceriam ter suas esculturas no Pantheon. Embora não se esqueça de alguns cientistas, escritores e artistas[17], chama a atenção em sua lista o setor formado por políticos que, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX tinham contribuído para sedimentar a posição do estado de São Paulo como líder no contexto brasileiro. Neste sentido, se Adolfo A. Pinto imagina o início de seu templo com esculturas dedicadas aos antigos bandeirantes, ele o arremata com a representação dos novos. Assim, as imagens de Prudente de Morais, Campos Salles, Eduardo da Silva Prado, Francisco Glycerio e Bernardino de Campos, entre outros[18], fechariam essa fantasia grandiloquente de sabor florentino, implantado nas bordas de um jardim a la Versailles, um Centro Cívico para invocar e pedir a benção dos antepassados paulistas, “espinha dorsal” do Brasil:
Perante vós, (…), paraninfos do renascimento cívico da Pátria, (…) curvamo-nos todos, nós, os vossos descendentes, os vossos legítimos herdeiros, os legatários viscerais de vosso incomparável espólio, para render-vos o preito reconhecido da nossa mais profunda admiração e referência, e pedir-vos que sejais (…) os espíritos guiadores da diretriz que há de conduzir a seu alto destino a nossa estremecida terra paulista, a terra que conquistastes com o vosso valor, que fecundastes com vosso trabalho, que dignificastes com o vosso patriotismo, a fim de que seja ela nos tepor porvindouros, como foi nos que passaram, o fator máximo da grandeza e felicidade do Brasil[19].
***
Como epílogo, gostaria de salientar que, para o olhar atual, chama a atenção, tanto no caso paulistano quanto no florentino, a ausência de mulheres homenageadas, fato que pouca ou nenhuma importância poderia ter para a sociedade paulistana de então, em que as mulheres tinham pouco reconhecimento[20]. Digno de nota, no entanto, é o fato de Adolfo Pinto ter colocado um indígena – Tibiriçá – como o primeiro dos paulistas. Essa precessão do cacique de Piratininga como o patriarca maior, seria seguida no texto por uma série de referências à presença do indígena na formação do bandeirante paulista. Podemos entender essas referências aos indígenas como um reconhecimento da importância ou da igualdade do índio em relação ao português? Claro que não, eu diria. A alusão aos indígenas e ao seu sangue que corria nas veias dos “verdadeiros” paulistas, funciona no discurso de Pinto apenas como um marcador da diferença entre esses “autênticos” paulistas e os imigrantes que chegavam de todas as partes do mundo.
Quanto à ascendência africana de Carlos Gomes ou de outros paulistas, nem um pio.
__________________________________________________________________