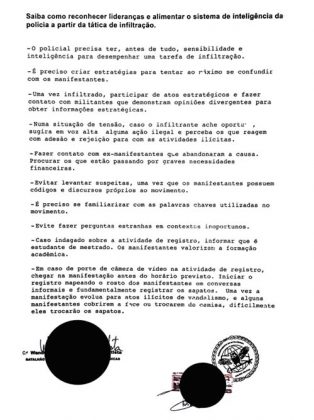O Projeto NUM é um grupo de artistas feministas, gestores e escritores que compilaram um livro documental sobre os impulsos criativos gerados em torno das mobilizações nacionais lideradas originalmente pelo movimento #NiUnaMenos. O projeto ocupa o Centro de Expresiones Contemporáneas, em Rosário, na Argentina, como parte da BIENALSUR.
A mostra, intitulada Recuperemos la imaginación para cambiar la historia, se propõe a ser “um arquivo vivo, em constante movimento, que relaciona obras muito contemporâneas, criadas no calor da ação feminista, que não apenas denunciam a cisheteronorma (matriz de nosso sistema), mas possibilitam alternativas e releituras”. Uma outra proposta que também destaca o empoderamento feminino foi inaugurada em Tucumán no último fim de semana de maio, a mostra Heroínas, com obras que incluem fotografias históricas das Mães da Plaza de Mayo.
A seguir confira entrevista com Mai Lumi, integrante do coletivo que realiza o Projeto NUM:
Quando o projeto começou? Como se organizam?
O Project NUM é um arquivo coletivo e documental que captura os impulsos criativos gerados e continua gerando os primeiros #NiUnaMenos, em 3 de junho de 2015. Somos Nina Kunan, Lucia Reissig, Laura Harness, Eugenia Salama e Mai Lumi, e trabalhamos no projeto desde meados 2015. Nos autoconvocamos com a idéia específica de captar este conteúdo em um livro, para dar espaço para as criações nascidas da nossa subjetividades neste contexto.
De onde surgiu a ideia de trabalhar artisticamente as questões do movimento NiUnaMenos?
Percebemos que o contexto de urgência sociopolítica nos desafiava individual e coletivamente e que as manifestações surgiram para além da própria militância. Era inevitável não ver como as ruas e as redes sociais estavam cheias de conteúdo. Nossa missão era condensar e arquivar esses trabalhos sem hierarquias. O movimento Ni Una Menos constitui politicamente uma experiência muito mais vasta do que a que realizamos no Proyecto NUM.
A ideia de trabalhar com a problemática feminista surge, no início, a partir do que vivia nos momentos anteriores ao primeiro dia 3 de junho. Neste contexto, com uma pulsão amorosa, criativa e rebelde que foi gerada nos meses antes e após os primeiros #NiUnaMenos apareceram fora do museu – na rua, na praça, nas salas de aula e nas redes sociais – imagens e narrativas que trouxeram à tona questões relacionadas à sexualidade, gênero e violência sexista. O Projeto NUM procurou juntar essas coisas, motivado pela crença de que a imaginação tem o poder de mudar a História, pela certeza de que, em cartazes, murais, curtas, reflexões, performances urbanas, intervenções em marchas há um grande potencial transformador e desestabilizador não apenas do cânone literário e artístico, mas da tradição heterossexista e patriarcal.
Quando surgiu a proposta de trabalhar com a bienal?
Enviamos a proposta para a chamada da BIENALSUR e fomos selecionadas. Nós sempre trabalhamos de autogestão. Na verdade, o livro foi financiado coletivamente com um Ideame [plataforma de financiamento coletivo]. Sempre quisemos reunir fisicamente os trabalhos em uma grande exposição e estávamos procurando uma ligação que pudesse atender às nossas necessidades. Mas a produção deixou muito a desejar e, desde o projeto, acabamos pedindo muitos recursos materiais e econômicos.
Quais são os temas relevantes nos trabalhos do projeto? E quais os formatos?
Há artes visuais, registro de desempenho, fotos, literatura, vídeo e instalações. O trabalho é feito por artistas e não artistas. Isso é importante: o projeto NUM nasceu do desejo de expressar impulsos criativos em resposta a um momento específico. Nesse sentido, este projeto tem uma carga muito forte em sua diversidade: pulsa o desejo de imaginar e refletir a partir da arte. Somos muitos e muito diferentes, mas esse desejo desafia todos nós, e é disso que trabalhamos. Tanto a arte quanto o feminismo são infinitos em sua subjetividade, não pretendemos representar um movimento inteiro ou manifestar uma mensagem especial, apenas possibilitar um espaço. Portanto, há artistas de trajetória como Ana Gallardo ou Fátima Pecci Carou e também professores de artes plásticas, trabalhadores da arte, da cultura, jornalistas, ativistas, estudantes, etc. As obras são coletivas e individuais.























 É em nosso corpo que experimentamos
É em nosso corpo que experimentamos