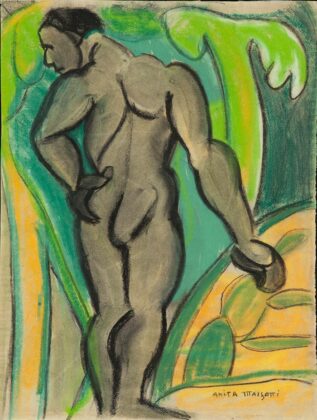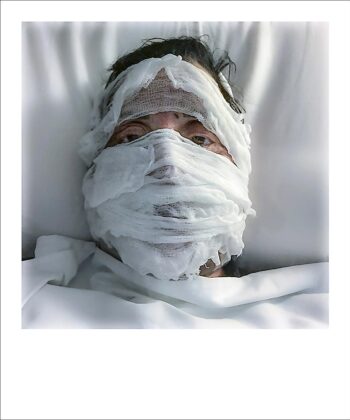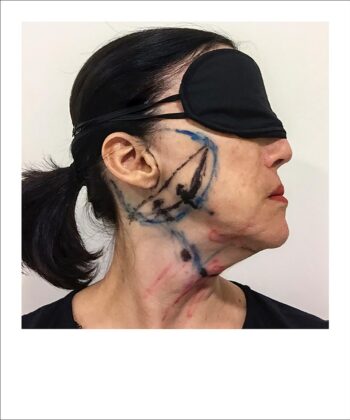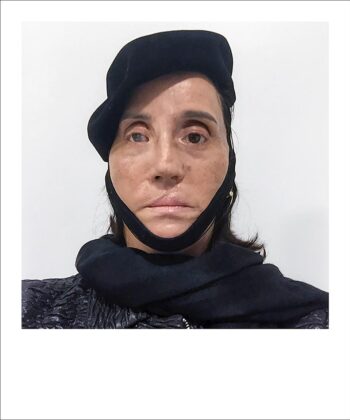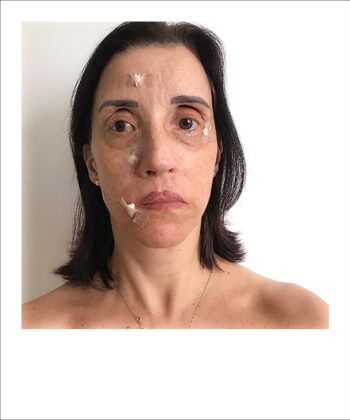Embora este também seja um sonho bastante distante, está muito mais próximo do que o sonho de uma idade de ouro. No entanto, o primeiro requisito é a memória. A memória fraca beneficia a nós mesmos, mas prejudica os nossos descendentes. A capacidade de esquecer permite que as pessoas abandonem passo a passo o sofrimento que um dia conheceram; mas a capacidade de esquecer também leva as pessoas a repetirem os erros de seus predecessores.
Lu Xun (1881-1936), sobre o direito feminino à igualdade em relação aos homens (XUN, L., 2017, p. 259)
Para os gregos antigos, à certa altura os inventores da experiência democrática, falar grego era suficiente para ser considerado grego ou pelo menos não ser considerado bárbaro. Em um certo período da história daquele país a democracia estava ligada à fala e, portanto, à capacidade de persuasão. Ser cidadão, contudo, já era algo mais complexo, porque era um conceito associado à tomada de decisões que afetavam os rumos não só dos concidadãos como um todo, mas também da classe dirigente e de sua capacidade de perpetuar seus privilégios. O poder econômico, desde os gregos antigos, portanto, cuidou para que aqueles que tomassem as decisões que afetassem a tudo e a todos fossem exatamente os atores advindos de uma elite: uma raça de pessoas que defenderia seus conflituosos e, não raro, contraditórios interesses privados na polis (cidade), ou seja, no mundo político.
Por outro lado, nos momentos históricos em que as elites levaram autocrática ou oligarquicamente os rumos de todos ao caos ou à beira da destruição, foram os períodos em que se tornaram mais evidentes a presença nefasta de instâncias que se quiseram acima da política. Também no Brasil, uma certa afrodescendência jogada para debaixo do tapete devido à vergonha que significou a escravidão para a história do país, outrora escondida, hoje se escancara à luz de todos via internet, publicidade e meios de comunicação, auxiliando-nos, ambiguamente, a vermos a democracia concreta como a única luz no fim do túnel do capitalismo tardio.
O declínio grego antigo, que o historiador de filosofia Will Durant chamou de “suicídio da Grécia”, esteve ligado ao declínio da liberdade e da democracia. Durante o segundo Império Ateniense “graves denúncias costumavam ser imputadas aos mais preeminentes banqueiros, e o povo os encarava com a mesma inveja, admiração e desagrado com que os pobres favorecem os ricos em todos os tempos. A substituição da riqueza imóvel pela móvel produziu uma luta febril pelo dinheiro, e o idioma grego teve de inventar as palavras pleonexia, para classificar esse apetite por ‘mais e mais’ e outra, chrematistikê, para a feroz conquista da fortuna. Produtos, serviços e pessoas eram cada vez mais julgados à luz do dinheiro e da propriedade. Faziam-se e desfaziam-se de fortunas com rapidez nunca vista, e eram esbanjadas em toda sorte de extravagâncias, num exibicionismo que teria escandalizado a Atenas de Péricles.” (DURANT, 1957, p. 148)
A igualdade perante a lei, a participação direta nos rumos da nação, bem como a garantia legal de expor, discutir e votar as suas opiniões nas assembleias públicas não só são o suprassumo da democracia, como o acesso a isso é o suprassumo do que é ser cidadão. Aqueles que forem excluídos da igualdade estando acima ou abaixo das leis – sendo por coerção ou pela própria vontade alijados da participação política ou aqueles minimizados social, física ou psiquicamente a ponto de não poderem expor, discutir e votar as suas opiniões em público – são pessoas privadas, barradas da cidadania, alheios do que é ser cidadão.
No sistema democrático de consumidores, excetuando os sonegadores, aqueles que forem pagantes de impostos que se assumirem em suas responsabilidades cidadãs, independente da cor de pele, origem ou status social tendem a ser chamados cidadãos. No limite, mesmo quando se trata de grupos populacionais de extrema pobreza, eles compõem a economia do país quando participam da circulação de mercadorias, compra e venda ou prestação de serviços, compondo uma porcentagem do quadro econômico, ainda que muitas vezes não tenham nenhuma porcentagem na participação política.
Marginalizados são coagidos a não participarem do debate público. Porém, mesmo estes e seus ancestrais ajudaram a construir o conjunto que forma o Estado, o mercado e a sociedade. A taxa de homicídio dos negros trazidos pelos Atlas da Violência (IPEA, 2021), por exemplo, indicou que o número de óbitos por homicídio esteve em torno de 77% em 2021 (esse mesmo dado, em 2008, girava em torno de 64,55%). Ser negro significa ter duas vezes mais chances de morrer assassinado no Brasil atual. Porém, mesmo com esse chamado “genocídio”, segundo dados do IBGE, 54% da população é negra. Tal número pode ser ainda maior a considerar que esses dados são colhidos por meio de autodeclaração e uma grande parte dos afrodescendentes não se assumiram ainda como mestiços ou negros.
Para aqueles que duvidam da necessidade de reparação do processo escravagista que durou oficialmente cerca de 400 anos, lançamos a seguinte reflexão apenas para ficarmos nos campos profissional e educativo: o reino português foi o responsável direto pela escravização negra e indígena brasileira; foram milhões de pessoas escravizadas desde cerca de 1530 até a independência do Brasil em 1822. Eles proibiram que os africanos e seus descendentes se alfabetizassem e mesmo os brancos pobres, já que os portugueses jamais abriram uma universidade sequer no Brasil. Quantos negros são hoje chamados a frequentarem universidades com bolsas de estudo ou participarem de editais, projetos socioeducativos ou profissionalizantes em Portugal? Depois da independência, a realeza brasileira assumiu o controle escravagista até seu fim na Proclamação da República em 1889. Que responsabilização os herdeiros da família real luso-brasileira ou os governos que os sucederam na primeira e na segunda república atribuíram para si em relação a todo período exploratório afro-indígena anterior e o período de abandono posterior? Ou seja, os governos português e brasileiro e ainda outros foram os responsáveis diretos pela escravidão e pela inexistência de reparação social dos danos causados por ela aos seus descendentes; quais argumentos reais os absolveria desta e de outras responsabilidades junto aos afrodescendentes marginalizados?
Dando espaço para debates intermináveis, a grande mídia se mostra contra a reparação porque coloca em dúvida a existência da violência histórica naturalizando-a no dia a dia. Mas seriam inocentes os afrodescendentes que esperassem da grande mídia ou do Estado Brasileiro ou, pior ainda, do governo português essa reparação. Mas os jovens afrodescendentes têm demonstrado estar cientes disso pelo grande descontentamento que vem apresentando nas redes sociais. Eles sabem que o racismo histórico encontrou meios de se perpetuar e que a ampliação do fosso social e a criação de uma marginalidade cria também a ilusão de superioridade em certos grupos que se sentem diferenciados ou acima das leis – isto ainda é uma pedra no sapato do futuro da democracia no país.
Empurrar negros para a marginalidade, uma tática racista que funcionou por um certo espaço de tempo, não só é hoje disfuncional como se volta em grande onda contra aqueles responsáveis pela marginalização. A ampliação e o aprofundamento da cidadania é um dever cidadão; atitude indeclinável de quem vive em sociedade. Direito de ser, direito de existir, direito de ir e vir, entre tantos outros, são sempre direitos de tempos em tempos questionados aos marginais ou aos considerados “marginais da vez”. A ampliação e o aprofundamento cidadão moverá obrigatoriamente para dentro do corpo social toda “ovelha desgarrada”, porque simples e logicamente não há humano fora de seu gênero, bem como não há humano fora da política – ainda que seja aquele excluído de todos os direitos. O acesso a bens culturais, acesso à saúde, à ciência e às artes, acesso ao pensamento público, significa direito humano: o acesso à informação e à produção humana, acesso à educação, alimentação, trabalho e lazer etc. significa ser humano, simplesmente.
O marginalizado é desumanizado. Ele tem espaço na vida, por mais que esta seja limitante e limitada, mas o seu acesso ao bem-estar social, à produção cultural total é restrito ou bloqueado pela ausência do espaço que teria naturalmente na economia política. Mas mesmo que haja racionalidade na identificação de que há indiferenciação entre poder econômico e poder político num país de bases escravagistas, vivemos em um tipo de democracia formal que dá a entender ilusoriamente que qualquer cidadão tem acesso a participação política apenas pelo voto, o que não é verdade.
Pensemos mesmo assim, nos negros com poder econômico. Eu não me refiro aos negros músicos ou técnicos de empresa cujo poder aquisitivo lhes garante ter acesso aos carros de entrada das grandes montadoras. Sequer eu me refiro aqui aos negros produtores de grandes eventos ou os que seguiram carreira na medicina, advocacia (especialmente a criminal), engenharia ou que tiveram acesso a empregos técnicos em multinacionais e que lhes tornaram capazes de acessar com pagamento a prazo as suas SUVs e picapes – em suma, eu não me refiro ao negro de classe média. Eu me refiro a aqueles jogadores de alta performance que assim que se tornam milionários “embranquecem”, sonegam impostos, defendem interesses de classe, mas que continuam sendo chamados de “macacos” na Europa ou desprezados por juízes, ou ainda reduzidos a objetos por mulheres que são igualmente reduzidas a objetos por aqueles. O poder econômico desses atletas não os absolve de sua negritude – principalmente nos locais onde eles não podem se esconder atrás de seu suposto heroísmo. A humanização negra em um “mundo branco” é um aspecto que vai além da democracia formal e do poder econômico. Ser negro é ser pária dentro de seu país, mas também fora dele.
É por isso que as expressões do multiculturalismo com as suas revoltas de internet, reformas ortográficas oficiosas de superfície, infantilismos, “caça às bruxas” ou “cancelamentos” de espírito medievais, tentativa de auto-fundamentação do politicamente correto, o identitarismo carnavalesco e a guerra de palavras e palavrões são apenas o fim do túnel, não são expressões da democracia do fim do túnel.
Ainda que a juventude (mal)criada e (mal)educada pela internet (informados apenas pelo Facebook, Twitter, Instagram etc., e pelos pseudossábios que postam vídeos sobre quaisquer assuntos em troca de likes e superchats no Youtube) se sinta como maioria “empoderada” (narciso diante do espelho), a ditadura da maioria ainda é uma ditadura.
Particularmente os coachs e youtubers, estes que mais amplamente “nadam de braçada” no mar da ignorância e do autoritarismo, são aqueles antigos “especialistas” que apareciam na TV para moldar o “ser-informado” e sua sociabilidade. Ensinavam como se comportar, como ser asseado, isto é, ensinavam desde como tratar de unha encravada ou se livrar da caspa, até como o pobre conseguiria enriquecer apenas aplicando na bolsa de valores! A mesma indústria que, por meio da publicidade, intimida o ser social diz que irá salvá-lo da intimidação. Talvez um dos exemplos crassos seja o de como algumas mulheres são forçadas a se entupir de guloseimas e ao mesmo tempo são forçadas a não serem gordas; quem cria a gordofobia é quem cria a glutonaria e inventa que a felicidade “pode estar a seu alcance: basta clicar aqui”. O mundo da suposta facilidade é um dos mais tirânicos mundos possíveis. A pós-verdade aplicada à internet tem o mesmo objetivo que a publicidade tinha na televisão: formar internautas passivos, dóceis, submissos, moldáveis dentro do espectro de “consumidor de conteúdos”.
No embate entre a “expectativa versus realidade” (tornada meme para ser deglutida no universo do aceitável), a enorme diferença entre o título e miniatura caça-níqueis dos vídeos e seu verdadeiro conteúdo é naturalizada, tornada chiste, assimilada e aceita como “ossos do ofício”. Na sociedade publicizada o meio se tornou o fim, o sonho de classe média não é mais ter uma casa e um carro, mas sim ter seu vídeo recomendado, seu post viralizado, sua vida exposta para o maior número de pessoas. Pois assim é possível ser recomendado, ter seu post viralizado e poder recomeçar o ciclo vicioso que não levará a maioria dos “criadores” de conteúdo e seus (consumo)seguidores a lugar algum, nem mesmo, às vezes, à monetização de um lado ou entretenimento do outro – apenas perda de tempo e aumento do autoritarismo geral. Via de regra, com a invasão intrometida dos cookies – que impedem praticamente dar um passo sequer em qualquer site sem a captura de informações pessoais valiosas dos internautas – e com a atual forma de pesquisa do Google, entre outras – cada vez mais direcionada, mercantilizada e minimizada, porque já não entrega resultados livres e abrangentes sem que haja intermediação monetária de algum tipo -, a internet que já foi o espaço da liberdade é hoje o biscoitinho dirigido ao dragão e somos nós que o alimentamos, desavisados, com nossos cliques cheios de empolgação.
Nenhuma metáfora é melhor para a enorme perda de tempo de navegação nos smartphones do que a ideia de usar o dedo na telinha para “enxugar gelo” e trabalharmos como “cliqueiros” gratuitamente para empresas bilionárias que financiam o autoritarismo mundial. A ideia de ser produto à venda não se coaduna com a de viver ou trabalhar sob um sistema democrático e um regime republicano. Se o que é apresentado como entretenimento vira vício, trabalho ou manipulação, estamos falando de uma enfermidade do fim de uma era e não início de outra – pois não haveria futuro sem uma luz no fim do túnel.
Sendo jogados no meio da disputa atual entre interesses mercantis e interesses públicos, os afrodescendentes e seus defensores, agora munidos de seus smartphones, apareceram como fenômeno consistente na internet. Porém, contraditoriamente, devido à grande força raivosa da busca por direitos pelas redes sociais, como uma “luz no fim do túnel”, parecem querer fazer o exercício da democracia, em vez de aceitar passivamente “enxugar gelo” diante da emergência das modificações sociais que eles exigem. A percepção da afrodescendência na internet, nesse sentido, tem se tornado um alimento fértil para o exercício cidadão virtual promovendo um ponto de ebulição nesse exato momento de descenso democrático, avivado também pela internet. Na medida em que um grupo gigantesco é chamado a ancorar-se nessa “baía” tomada militarmente por forças retrógradas e antidemocráticas, ainda que sejam aceitos apenas como consumidores, esta inserção afro-brasileira pode também significar um ponto de inflexão: na aparência de democracia, a necessidade agora premente de inserção da diversidade no quadro publicitário também gera entre os jovens cultura e consciência negras – eles não parecem e não querem aceitar tão pouco!
Aqueles que foram chamados a participar do mundo mercantil e eram excluídos da cidadania e do consumo agora também desconfiam daqueles que os chamam. Aqueles que por meio de sua consciência negra vêm percebendo que ser chamado ao consumo significa apenas ser “consumidor” negará esta participação à sua própria maneira nesta esfera em que tudo tem preço, tudo se compra, tudo se vende. Ao contrário, este novo sujeito recentemente inserido sabe que a inclusão negra no mundo mercantil o torna mais uma entre outras mercadorias. Por isso ele também tem usado de sua própria capacidade e originalidade para encontrar meios de afirmar-se na esfera pública como cidadão e rejeitar o rótulo de mero consumidor de produtos direcionados a afrodescendentes.
Independente dos métodos que serão utilizados para a real inserção social dos afrodescendentes, essa inserção só será duradoura combatendo-se a condescendência e estimulando o protagonismo e a autogestão. Para isso – como foi indicado na epígrafe deste artigo, com a frase do escritor chinês Lu Xun -, exemplos históricos devem ser levados em consideração. Porque, quando ruíram ou foram minimizados historicamente os modelos sociais marginalizantes como o sistema de servidão feudal, a escravidão mercantilista, entre outros sistemas exploratórios seja do tipo latifundiário, comercial ou industrialista, as figuras marginalizadas trocaram de status, mas permaneceram as mesmas. O servo se tornou camponês, o proletário se tornou “precariado” (isto é, trabalhador “precário”, sem aqueles direitos trabalhistas conquistados tão duramente pelos proletários) etc. Ou seja, os ávidos por cidadania continuaram os mesmos que estiveram necessitados de cidadania em um mundo que ainda os marginalizava. Esses exemplos são tomados ao mesmo tempo em que podem ser levados em consideração os exemplos da luta de emancipação feminina, na qual as mulheres “ganharam, mas não levaram” – aprendendo a duras penas que a sua independência social não estava atrelada à sua independência no campo dos hábitos e dos costumes (inclusive dentro de casa). A experiência feminina mostrou que todos os seres sociais detêm os mesmos princípios de luta: a conjunta luta democrática e cidadã de inclusão política de todos os grupos marginalizados.
Será este processo de inserção social que começa agora pela internet será bem-sucedido em sua tentativa de se transferir do mundo virtual para o das relações políticas na esfera pública? Conquistarão os afrodescendentes o tão sonhado protagonismo e independência, sem os quais ninguém se emancipa do fardo de ser tratados por todos como mero número, mero consumidor? E ainda, os ativistas virtuais, agora alçados ao mundo da democracia formal, serão maduros o suficiente para transferir as suas forças para o campo da democracia real? Isto só o tempo nos dirá!
Pode-se não gostar muito da falta de modos dos recém inseridos ou de como esta inserção está sendo feita, mas não se pode dizer que a democracia não pode ser fortalecida com esta inserção inicialmente virtual e com isso transformar o veneno em remédio. Excetuando, portanto, aqueles casos em que pessoas ou grupos de privilégios são francamente ou dissimuladamente antidemocráticos, todos os outros grupos que têm consciência de que só há uma luz no fim do túnel aplaudirão a admissão negra, a autodeclaração afrodescendente do Brasil como um dos principais entre os novos fôlegos para a consistência, continuidade e aprofundamento da luta democrática.
Referências
DURANT, Will. História da Civilização. Segunda Parte: Nossa Herança Clássica (Tomo II). São Paulo: 3.ed. Companhia Editora Nacional; CODIL, 1957.
XUN, LU. In: CHENG, Eileen J.; DENTON, Kirk A. (Ed.). Jottings under Lamplight. Cambridge: Harvard University Press, 2017.