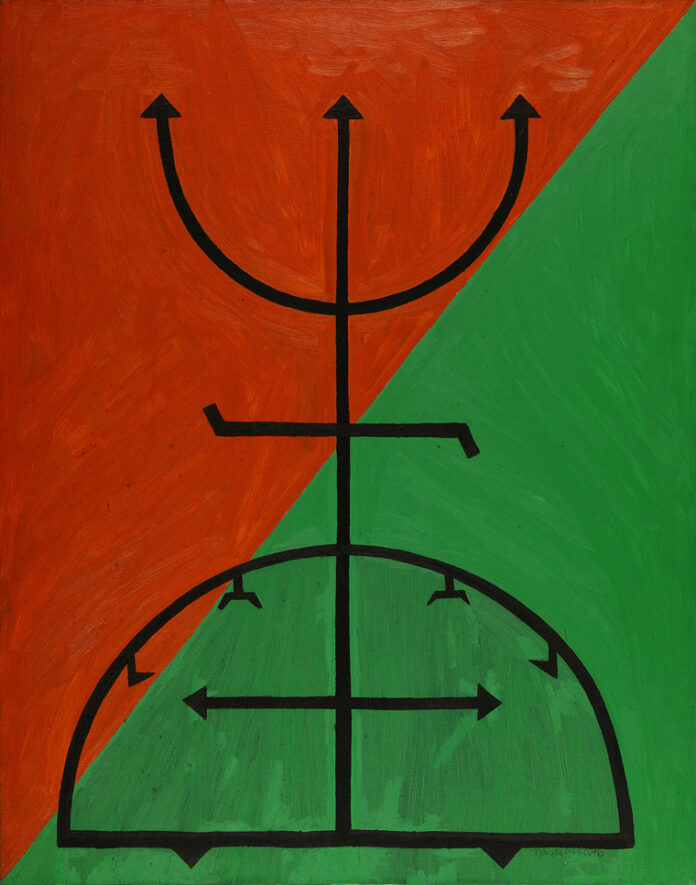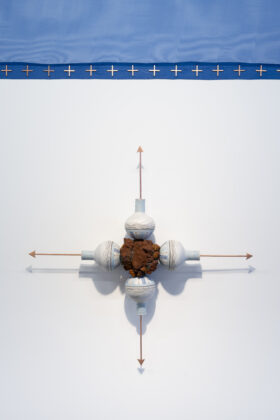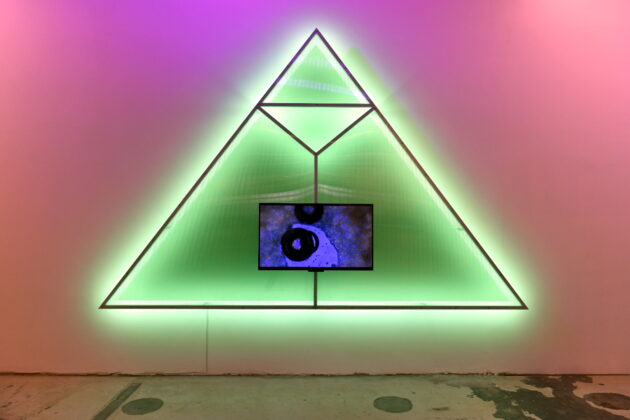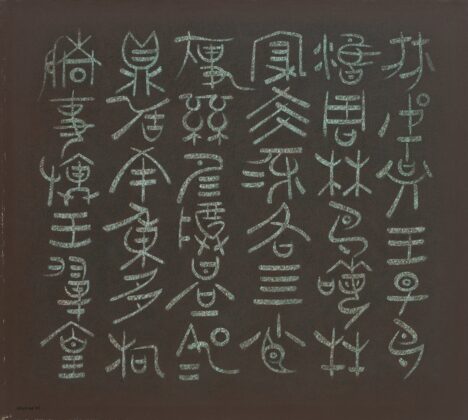Na 60ª Bienal de Veneza, na Itália, a partir de 24 de abril do ano que vem, o
Brasil será representado por uma obra da artista visual, cineasta, escritora,
antropóloga e pesquisadora baiana Glicéria Tupinambá, conhecida como Célia
Tupinambá. Célia vai levar a Veneza a exposição Ka’a Pûera: nós somos
pássaros que andam, de Glicéria Tupinambá e convidados, com curadoria
de Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco Wapichana. Ka’a
Pûera é como se designa uma grande área de mato que está em processo de
regeneração após uma queimada ou utilização como lavoura ou pasto.
A mostra na Itália prevê também que o Pavilhão do Brasil nos Giardini della
Biennale seja renomeado para Pavilhão Hãhãwpuá (nome Pataxó que era
usado para descrever o Brasil antes do avistamento português). Segundo a
Fundação Bienal de São Paulo, a mostra de Célia Tupinambá a ser instalada
na Itália aborda “questões de marginalização, desterritorialização e violação
dos direitos territoriais, convidando à reflexão sobre resistência e a essência
compartilhada da humanidade, pássaros, memória e natureza”, o que a integra
ao tema geral da 60ª Exposição Internacional de Arte – La Biennale di
Venezia: Foreigners Everywhere (Estrangeiros em toda parte).
Nascida em 1982 na aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, em Olivença, no Sul da Bahia, Célia é mestranda em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e encabeçou as negociações para repatriar ao Brasil, em 2024, o Manto Tupinambá que se encontra atualmente no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. Durante a colonização do Brasil, os mantos dos Tupinambá viraram objetos de escambo, saques ou negociações, e sua tecnologia construtiva perdeu-se no tempo. Ela reaprendeu a confeccionar o manto, tornando-se a primeira mulher a construir tal artefato em mais de 400 anos.
Nos próximos dias 25 e 26 de novembro (sábado e domingo), o Festival ZUM, organizado pela revista de fotografia do Instituto Moreira Salles, reunirá artistas, fotógrafos e pesquisadores para conversas, oficinas, exposições, feiras e outras atividades gratuitas. O evento, que chega a sua 8a edição, acontece na sede do IMS de São Paulo (Av. Paulista, 2424), e terá como destaque uma ação de Célia Tupinambá, no dia 25 (sábado), às 14h. Ela irá à frente de uma caminhada coletiva, com o Manto Tupinambá, pelos espaços do
IMS, acompanhada de representantes de outras Nações indígenas. Glicéria Tupinambá concedeu a seguinte entrevista à arte!brasileiros:
ARTE!✱ – O Censo do IBGE, divulgado recentemente, informou que a população indígena hoje no Brasil representa 0,83% do total de brasileiros, cerca de 1,7 milhão de pessoas. E é uma representação muito diversa, há grupos com 12 indivíduos e outros com 20, 30 mil pessoas. É muito complicado ir a Veneza representando toda essa diversidade?
Depende de que ponto de vista você tá falando. Porque, se você pensar que o Brasil é território indígena, e se você pensar que esse percentual que o IBGE levantou, tentando demarcar essa presença, essas populações tentando resistir, tentando não ser engolidas… Bom, eu estou indo representando o povo indígena. Mas tem uma parceria imensa com outras Nações Indígenas, como por exemplo Denilson Baniwa, que é do Amazonas; Arissana Pataxó, que é da Bahia, Gustavo Caboco, que é Wapixana, de Roraima. É uma geografia bastante intensa, territorialmente. Ocupar esses espaços coloca a população
indígena em evidência, faz com que se compreendam os povos indígenas que estão sendo engolidos por uma dinâmica muito agressiva. Ajuda para que vejam a presença indígena.
ARTE!✱ – Na próxima semana, você mostra o Manto Tupinambá que você confeccionou no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo. Qual é a importância do Manto Tupinambá nessas itinerâncias? Para essa atividade eu estou convocando os parentes. Então tem Pankararu, Pankararé, Guarani, Tukano. O manto traz esse espaço de diálogo e ruptura, a gente tende a encontrar as tensões, os desafios. E não é somente Célia Tupinambá, é uma carga histórica, e essas alianças, esse estar com os parentes (serve) para ver em que situação estão, em que lugares estão. Então, é importante é fundamental essa presença do manto faz as pessoas pensarem, reelaborarem outras concepções. Estar com os parentes, por conta dos possíveis diálogos, é importante, como é importante que o manto esteja em movimento para que as pessoas possam entender uma outra lógica. O Manto é um corpo provocante.

ARTE!✱ –Você fez o primeiro Manto Tupinambá em 2006. Isso já tem 17 anos.
Quantos mais você fez depois daquele primeiro?
Fiz mais dois. Esse que vou apresentar agora é o manto feminino, tem uma diferença. O primeiro eu fiz a partir de uma imagem, uma imagem que eu vi do manto que está na Dinamarca. Então ele é uma aproximação, não dava para ver a trama, era muito cheio de penas. Em 2018, quando eu vi na França um manto, e logo depois, outro manto na Suíça, em Basel, eu passei a tentar entender a malha. Tem um manto lá em Basel que é mais desgastado, dele dá para ver a malha perfeitamente. A minha ideia era entender o cerne o osso do manto. Eu tentei, anteriormente, que as minhas tias-avós me ensinassem o seu
jeito de fazer o manto. Mas elas me disseram que, como eu já tinha sonhado o manto, eu já sabia como fazer, não havia o que ensinar. Então eu aceitei o conselho delas e fiz o primeiro manto, que hoje está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi incorporado a partir da itinerância da exposição Os Primeiros Brasileiros, com curadoria de João Pacheco de Oliveira, em 2021. Em 2020, eu fiz o segundo manto, que foi para o meu irmão, que é o cacique Babau do povo Tupinambá. Foi então que o manto falou para mim que ele era feito por mulheres. Quando isso aconteceu, eu fiquei com essa “cosmo-agonia” (risos). Eu não tinha o que as pessoas chamam de “provas”, eu só tinha essa autorização dos Encantados. Então eu fui atrás. Depois, a Fernanda Liberti (fotógrafa e artista visual) chegou lá na aldeia e me trouxe um livro chamado O Rio Antes do Rio, de Rafael Freitas Silva (Editora Relicário, 2021). Na capa desse livro tem uma mulher em uma ilustração, uma mulher usando o manto com uma criança nas costas. É uma xilogravura. Essa imagem, da mulher usando manto, depois eu fui ver novamente em outros três desenhos. Em outro desenho, ela usava o manto, a saia e o maracá. Mais adiante, a (antropóloga) Daniela Alarcon e eu acabamos encontrando esse material. Mas ainda era pouco vestígio. Em 2022, quando estive na Dinamarca, o manto falou comigo.
ARTE!✱ – O manto fala com você quando você está perto dele?
Quando eu estou perto dele, ele fala comigo, e ele me disse que era feminino. Eu já tinha essa comprovação, por ter visto manto sendo utilizado por seis a sete mulheres, e cada textura do manto era diferente. Em 2023, eu estive no Palácio de Versalhes, na França, e no Salão Real vimos essa ilustração lá de uma obra que representava os continentes. No continente sul-americano havia uma mulher vestindo o Manto Tupinambá. As pessoas que estavam com a gente me disseram: “Ah, Célia, mas esse manto tem um traço grego”. E eu respondi: “Isso muda o fato de que é uma mulher?”. No imaginário do Hans Staden (1525-1576), o manto só é utilizado pelos pajés, e nós sabemos que era utilizado também pelos caciques. É o pajé e a sociedade Tupinambá em torno dele e do manto. Mas quando encontramos essas imagens, fechamos esse círculo de seis mulheres usando o manto. A última foi no mapa que eu vi da França Atlântica, que tem uma ilustração com outra mulher usando o manto. Então eu me dei conta que o manto era feminino.
ARTE!✱ – Quantos Mantos Tupinambás existem hoje no mundo?
São 11 mantos. Estão em Bruxelas, Copenhague e Basel. Há também muitos objetos Tupinambá nos gabinetes de curiosidades, Na França, há um machado, uma borduna, uma rede. Aquela semana em Versalhes foi bem intensa, a gente viu muitas coisas na França, e a memória Tupinambá muito forte. Foi então que eu tive essa comprovação de como o povo Tupinambá era recebido. A gente, na narrativa histórica, nunca teve um lugar político de igualdade, mas as várias representações dos indígenas que eu pude ver, e uma delas é um afresco exclusivo, coisas que a gente nunca tinha visto, demonstram que havia uma aliança e respeito. A história contada no Brasil a respeito dos Tupinambás tem outro recorte, invisibilizando a nossa presença. Para as pessoas entenderem porque esses mantos europeus se encontram na posse de reis na Europa, é preciso saber que é isso aconteceu porque era uma aliança de rei para rei. As pessoas falam um monte de coisa, mas é preciso entender esse fio contínuo.
ARTE!✱ – Originalmente, o manto era feito de penas de guarás. Mas isso não é mais
possível hoje, é?
Graças a Deus, existem ainda os guarás. E, agora, os guarás chegaram à Bahia, tem uma cidade chamada Salinas que tem um mangue que tem guarás. Mas o manto que eu fiz, eu fiz com as penas da arara que estavam ali à minha disposição. Os pássaros deixam as penas para mim, não precisa matar, eles trocam de penas a cada ano. Eu uso as que tenho à mão: sabiá bico de osso, gavião, canário da mata, inhambu, tururim. Agora mesmo recebi centenas de penas de Guará de um artista de um quilombo. Depois que a gente aprende o nó, a malha, o fio condutor, tudo é possível. Não é uma réplica. Trata-se de entender essa complexidade, porque isso faz entender o fio. É preciso internalizar, ouvir. Em geral, a gente pensa no outro sempre ensinando, né? As pessoas já não sonham mais, acham que tudo é material, tudo é factual, tudo é marxista, né (risos). Então, esse manto que eu vou apresentar agora, feminino, eu apresentei em 2021 na Casa do Povo. É esse aí que está fazendo o trabalho de abre-alas para o manto que vai vir da Dinamarca no ano que vem.
ARTE!✱ – A questão é: se já é possível fazer novos mantos, já há o conhecimento,
qual o sentido de trazer o manto da Dinamarca? É porque é sagrado?
O manto e os Encantados me mandaram escrever uma carta em 2022. Eu encaminhei a carta em setembro de 2022 para a Dinamarca. Depois que fiz a escuta, o manto me disse que eu pedisse essa doação para o Museu Nacional. Aí eles me perguntaram: qual manto teria que vir? O embaixador me perguntou e eu disse: “O manto principal, o que está em exposição. Ele me disse que já estava preparado para voltar”. As pessoas riram, acharam que não ia acontecer. Eu acho que muita gente trata o manto como um objeto, e ele é um ancestral. O retorno do manto, em primeiro lugar, serve para poder diminuir esse oceano de distância. Ele tem quase 400 anos, é um manto idoso (risos). E tem uma estrutura, mas essa força de vontade que ele demonstra de regressar para o seu povo tem que ser respeitada, é um ancestral regressado é assim que eu defino. Um ancestral há muito tempo silenciado. Nós chamamos isso de objeto agenciado. Ele carrega a espiritualidade, é um artefato agenciado pelos rituais Tupinambá. Nem todo mundo entende o que é um objeto agenciado; as pessoas de formação cristã, católica, evangélica, elas têm uma visão de sagrado que eu considero mais volátil, que reduz a quantidade daquilo que significa para gente. Um ancestral é um ser vivo. E isso explica o que levou essas pessoas a cuidarem dessa coisa tão frágil durante tanto tempo; você o vê hoje, ele parece novo. Parece que foi feito ontem. É muito mais do que sagrado para a gente; dizer que é sagrado reduz a potência do que ele representa.
ARTE!✱ – Até 2009, os Tupinambás eram considerados extintos no Brasil. Agora, estão já repatriando sua História, seus artefatos. Tem sido uma série intensa de acontecimentos, não?
Eu, na minha ignorância do pensamento do outro, digo que é difícil dizer o que eu tô sentindo. Tem gente que olha para o manto e não vê e vê um objeto estético, tem gente que pensa também que nós nunca existimos. Mas nós existimos e estamos aqui. A gente precisou se isolar para não ser totalmente extinto, né? Porque nós habitamos a região cacaueira, a região dos coronéis, e vocês sabem como é isso. Em 2000, quando a gente começou o processo de reconhecimento, nós precisamos reunir todas as provas porque não havia ainda a Convenção 169, a da autodeclaração (norma estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, assinada pelo Brasil em 2002), então nós tivemos que reunir todas as provas, até os sítios arqueológicos, para poder provar que nós existimos. Tivemos que buscar documentos, fotografias históricas. Então a gente voltou à cena, voltou a coexistir, e sempre num cenário de conflito que não é pequeno na nossa região. O manto volta para estabelecer essa conexão. Mas ele não cabe dentro dos parâmetros cristãos, evangélicos. Embora ele tenha que ser reintegrado, a sua existência deve ser restabelecida em um diálogo com os códigos de vocês. E é um tratado de doação, não existe o conflito nesse caso. O retorno do Manto Tupinambá se dá em uma situação na qual o outro entende o que é que o outro necessita. E concorda com isso, né? Eu me lembro que o embaixador da Dinamarca brincou comigo um dia: “E aí? o manto tá pronto para voltar?”. E eu disse sim, ele me disse que está pronto, e ele perguntou: “E qual vai voltar?”. Eu respondi: o principal, o que está em exposição na Dinamarca. E ele riu, e no entanto o manto está voltando agora, e eu gostaria de encontrá-lo de novo para lembrar disso.
ARTE!✱ – Quantos Mantos Tupinambá existem no mundo atualmente?
Nós temos 11 mantos Tupinambá na Europa. Estão em Bruxelas, Basel e Copenhague. E outros três na Itália: dois em Florença, um em Milão. Outros na França.
ARTE!✱ – O Censo do IBGE estimou em mais de 7 mil indivíduos o povo Tupinambá no Brasil. Esse número surpreendeu você?
Olha, eu não trabalho com números, eu acho que ainda é pouco. É preciso lembrar que a gente não fala a linguagem do colonizador. Eu não falo português, eu não falo inglês, eu não falo africano. Eu não falo tupi. A gente fala a nossa língua, a gente conseguiu contrariar essa lógica de invisibilização. Cada vez mais as pessoas vão criando consciência para entender que seu lugar no território é único, é um lugar seu, da sua existência dentro de uma Nação. E aí elas vão elaborando a sua consciência do mundo.