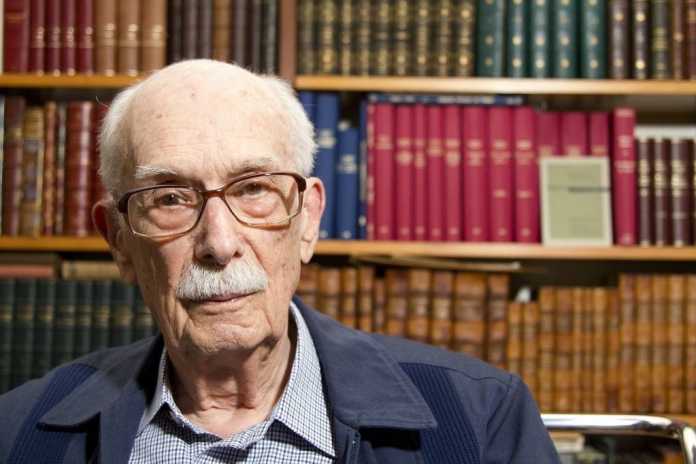- Laíssa Barros
As ciências humanas e sociais no Brasil experimentam hoje uma situação paradoxal. De um lado, nunca se produziu tanto conhecimento acadêmico em nosso país, sobretudo no formato de artigos em revistas científicas; do outro, estamos lendo cada vez menos sobre temas fora das nossas confortáveis especialidades, e talvez nunca tenhamos sido tão carentes como agora de intelectuais de ampla erudição. A perda do grande Antonio Candido, que nos deixou no último dia 12 de maio, desnuda claramente esse paradoxo. Onde estão os nossos Cândidos contemporâneos? O que explica essa aparente contradição? Seria apenas consequência de uma inevitável especialização intelectual e do enorme avanço dos meios de disseminação e armazenamento de informação? Em parte, sim. Atualmente, tornar-se especialista de qualquer coisa demanda um esforço hercúleo para ler tudo o que se produziu e se produz em determinados assuntos, e analisar as diversas (e cada vez mais infinitas) fontes primárias disponíveis. No entanto, há um outro lado dessa história, a meu ver igualmente responsável pela situação em que nos encontramos: a crescente e angustiante pressão produtivista.
A estrutura de incentivos da academia brasileira em ciências humanas e sociais está totalmente dependente de índices quantitativos de produção, sobretudo publicação de artigos em revistas acadêmicas, reproduzindo acriticamente estruturas advindas das ciências exatas e naturais. Para qualquer coisa que queiramos fazer, de pedidos de auxílio de pesquisa à progressão na carreira profissional, da solicitação de bolsas para alunos à manutenção de vínculo em programas de pós-graduação, tudo passa pela questão da produtividade. Nada mais importa. Qualidade das aulas, participação em debates públicos, atividades de extensão universitária, coordenação de grupos de estudo tornaram-se secundários. No grande Big Brother acadêmico que virou a Plataforma Lattes (portal público de currículos acadêmicos do Brasil), professores e estudantes só olham uma coisa: número de artigos publicados. Até mesmo livros (sic) estão ganhando reputação de produção inferior quando comparados a “papers”.
Essa rápida e grande mudança da academia brasileira, que basicamente ocorreu nas últimas duas décadas, provou que acadêmicos em ciências humanas e sociais do nosso país (eu incluso) respondem muito bem a incentivos. Em menos de uma geração, a tendência a uma reflexão cuidadosa, crítica e profunda de diversas questões, que desaguavam na produção de poucos (mas muito substantivos) resultados intelectuais, especialmente livros, deu lugar a uma frenética e periódica produção de artigos científicos, muitos dos quais fruto de pesquisas em estágios iniciais e que, em vários casos, precisavam de maior maturação para ir para o papel. Como não temos tempo a perder, porém, hoje mais importante do que publicar algo relevante é simplesmente publicar. Muitos chegam a dizer que, para sobreviver na academia, temos que ter “estratégia de publicação”. Inverteu-se a lógica: ao invés de a produção científica ser resultado natural de indagações e inquietações acadêmicas (ou, se preferirem, de uma “estratégia de pesquisa”), está se tornando cada vez mais comum a decisão de formular projetos e participar de núcleos de pesquisa a partir de seu potencial para gerar a maior quantidade possível de publicações, independentemente do conteúdo. Ao fazer isso, tomando-me de metáfora formulada por uma grande colega, professa Rossana Reis (FFLCH-USP), tenho a sensação de que estamos caminhando felizes para a câmara de gás: quanto mais produzimos e quanto menos refletimos sobre o que estamos produzindo, mais munição estamos dando para aqueles que advogam a inutilidade de nossas funções perante à sociedade.
Essa estrutura de incentivos produtivista também está desnudando e potencializando práticas no mínimo questionáveis na academia – quando não antiéticas. Dois exemplos emblemáticos são a explosão de coautoria em textos científicos e a publicação de artigos em revistas predatórias (isto é, periódicos que publicam qualquer coisa em troca de pagamento). A questão da coautoria é algo muito complexo e que demandaria mais espaço para ser discutida com propriedade. Coautoria em si não é problema algum: pelo contrário, dada a crescente interdisciplinaridade e especialização acadêmicas, a possibilidade de publicar trabalhos em conjunto é um mecanismo importantíssimo para viabilizar determinadas empreitadas intelectuais. O problema é a disseminação da prática (muito difícil de provar, mas que todos sabem que ocorre, e em intensidade cada vez maior) da coautoria fantasma. Isto é, acadêmicos que pouco ou nada colaboraram para a produção de um determinado artigo aparecem como autores desses trabalhos, seja devido a uma troca de favores (eu ponho seu nome no meu artigo e você põe o meu nome no seu), seja por assimetria de poder (patrimonialismo, clientelismo e relação de dominação orientador-orientando).
O fenômeno das publicações entre orientador e orientando, em especial, constitui um problema gravíssimo. De novo: não há problema algum de orientadores e orientandos redigirem um artigo em conjunto. A questão é que está virando normalidade orientadores colocarem seus nomes em artigos de orientandos apenas por terem supervisionado esses trabalhos – algo que, ao menos nas ciências humanas e sociais, nunca foi prática corrente. Se o pré-requisito fundamental para obtenção do título de mestre ou doutor é o fato de candidatos serem capazes de apresentar à comunidade científica um trabalho individual, como se explica o fato de, magicamente, aparecem artigos, resultados diretos de teses e dissertações (em andamento ou finalizadas), com o nome do orientando e do orientador como coautores? De duas uma: ou o orientando não fez o trabalho sozinho – e, logo, a defesa da tese ou dissertação teria constituído em uma fraude –, ou o orientador colocou seu nome no artigo do aluno sem ter sido autor de fato, o que perfaz coautoria fantasma.
Tão grave quanto práticas antiéticas de coautoria é a disseminação de publicações pagas em revistas internacionais. Sob a falsa justificativa de que com a cobrança de taxas se estaria garantindo acesso aberto a artigos – algo que ocorre, de fato, com periódicos respeitáveis em ciências exatas e naturais, mas não em ciências humanas e sociais –, algumas revistas internacionais publicam qualquer coisa, literalmente, em troca de dinheiro. Para incentivar o maior número possível de submissões em todas as áreas do conhecimento, muitas dessas revistas possuem os títulos mais amplos, vazios e esdrúxulos possíveis, como International Review of Basic and Applied Sciences, International Review of Social Sciences and Humanities , e International Science and Investigation Journal (uma lista recente das principais editoras e revistas predatórias pode ser encontrado aqui: http://beallslist.weebly.com). A ânsia produtivista e pró-internacionalização vem empurrando alguns acadêmicos a procurar esse tipo de publicação, mesmo sabendo que tais revistas e editoras serão necessariamente mal classificadas por órgãos federais de ensino, como a CAPES. O pensamento é: melhor publicar algo, mesmo que em revistas predatórias, ainda mais se for em inglês, do que não publicar nada. Como consolação para as muitas e muitos na academia que são obrigados a conviver com essas práticas e ficam indignados com o fato de que essas ações antiéticas muitas vezes dão resultados (bolsas, prestígio, cargos, poder), lembremos que toda publicação permanece para a posteridade. O tempo é o melhor dos juízes para transformar em pó a reputação de acadêmicos sem escrúpulos.
Temos todas as condições de produzir novas e novos Antonios Candidos, Celsos Furtados, Florestans Fernandes e Darcys Ribeiros, mas isso não será possível se continuarmos trilhando o mesmo caminho. Precisamos debater urgentemente formas alternativas (e necessárias) de prestar contas à sociedade e à comunidade científica que não estejam baseadas simplesmente na produção quantitativa de artigos. Recuperar a liberdade, a tranquilidade e o tempo de pensamento deve ser nossa principal bandeira. Que a perda de Antonio Candido nos estimule a refletir sobre novos caminhos.
*Felipe Loureiro é Professor, Instituto de Relações Internacionais, USP