

A obra de Rosângela Rennó será revisitada numa grande exposição antológica, a ser inaugurada na Estação Pinacoteca, em 2 de outubro, dando oportunidade ao público de ver em conjunto a potência de sua produção. Tendo como principais elementos a memória e a imagem, sobretudo a fotográfica, a artista desconstrói estruturas de perpetuação do poder, ilumina perversões sociais e traz à tona artifícios da nossa ordem social que nos ajudam a iluminar e desconstruir naturalizações que por vezes parecem inabaláveis.
Com curadoria de Ana Maria Maia, a mostra apresenta um leque amplo de pesquisas e questões elaboradas pela artista ao longo de 35 anos. Lá estão trabalhos antológicos, como as séries Vermelha (Militares), Vulgo ou Apagamentos, mesclados a obras pouquíssimo vistas, do início da carreira, ou pesquisas inéditas no Brasil como Eaux de Colonies (2019).
Enfim, Pequena Ecologia da Imagem, título da exposição que deriva de um trabalho feito em 1988, aponta para o núcleo poético em torno do qual Rosângela orbita, marcado por tempos entrelaçados, pelo recurso persistente a imagens de âmbito privado e por um fascínio por tirar da invisibilidade de arquivos e histórias anônimas, aspectos que ela aborda na entrevista a seguir.
arte!brasileiros – Essa exposição revisita toda a sua carreira? Pode ser considerada uma grande retrospectiva?
Rosângela Rennó – Ela é grande, mas não é retrospectiva. Primeiro porque a palavra retrospectiva já me deixa em pânico, nos coloca com uma certa idade que a gente se recusa a admitir que tem. Mas também porque muita coisa ficou de fora, o que é natural em qualquer exposição. Ela foi conduzida para ter um certo tipo de obra e uma temperatura. Se de fato fosse para ser retrospectiva, a gente teria que abranger outras questões.
Você trabalha com fotografia desde sempre, não?
Ainda estava na Escola Guignard – fiz arquitetura e a Guignard ao mesmo tempo – quando fiz a optativa de fotografia. Foi aí que eu falei: “É isso que eu quero fazer, esse é o meu meio principal”. Entre começar a trabalhar com fotografia e assumir certas manias, certas cismas (é coisa de mineiro. Mineiro cisma!) e eleger certas questões, certos temas, foi um tempo muito curto.
O primeiro trabalho é de 1987. Deve ser interessante esse processo de revisitar produções antigas.
Eu usei uma boneca dos anos 1950, que era da minha irmã, muito feia, para encarnar a Alice, o personagem do Lewis Carroll. Mas na verdade era uma espécie de pretexto para fazer algumas experimentações fotográficas. A gente discutiu muito sobre coisas recorrentes, inclusive porque existe um trabalho que se chama Círculos Viciosos, do acervo da Pinacoteca e que vai estar na exposição. Na minha vida tem um monte de coisas que vão e voltam. Porque eu faço elas voltarem, provoco isso. E também tem questões que eu já tratei dentro do meu trabalho que não me abandonam. Não é que elas voltam, elas nunca saem. Tem problemas que estão sempre na minha cabeça porque eles são assombrosos. Assombramento, nem sei se existe a palavra, é uma coisa do território da fotografia, não?
Como algo velado, latente? Parece que você está sempre querendo chegar no osso, mas esse osso está sempre um pouquinho mais longe.
Porque eu acho também que é isso também que faz a grande potência da imagem fotográfica. É pelo assombramento que você pode ficar entre ficção e realidade. Hoje se discute muito isso: o quanto de informação, o quanto você pode projetar de ficcional numa suposta informação, numa informação objetiva. Não vamos nem dar espaço demais para falar sobre o óbvio, que é o uso político que pode se fazer disso. Mas, esse território, essa coisa entre ficção e realidade, sempre existiu na fotografia. Só que às vezes isso chama mais atenção. E parece que no território do digital isso é mais fácil de perceber.
O Arquivo Universal, essa reunião de material sobre a imagem que você iniciou nos anos 1990, segue vivo? Como ele se fará presente na exposição?
A gente fica mais velho, fica mais seletivo. Tem que ser uma história muito boa para guardar. Eu edito menos o material, mas guardo muita coisa. O Arquivo Universal é o arquivo de textos sobre imagem. Vai aparecer na exposição com vários dos dispositivos que eu já usei antes. Está na base de instalações como o Hipocampo, que deve ter uns 18 textos com letra fosforescente, tem uns textos tatuados sobre pele e fotografados… Tem restos de atelier também. Há, por exemplo, dois textos que estavam no meu atelier porque ninguém quis. São textos horríveis, assuntos horríveis, que agora voltam para a parede. O curioso é que esses patinhos feios, que ninguém quer ter na sala, são ligados a racismo e colonialismo. Olha a coincidência.
Estão na categoria dos nossos assombramentos?
Assombramentos que na verdade nunca deixaram de sair do nosso imaginário. Só não estavam na frente. É muito curioso. Alguma coisa eu mostrei, cinco anos atrás, que incomodou. E quero mostrar de novo, incomodar de novo. Nem que seja pra ver se mudou alguma coisa ou não. No fundo, a gente faz essas coisas ou insiste em mostrar certas coisas, falar de novo, porque só pela repetição que a gente em algum momento consegue mudar a percepção de alguma coisa. O ser humano só aprende se você martelar várias vezes a mesma coisa.
Você poderia falar sobre a questão da ecologia, que está no título da exposição? Tem a ver com essa recuperação de materiais que você faz, mas há outras dimensões menos evidentes, não?
Quando fiz Pequena Ecologia da Imagem já me interessava pensar numa certa ideia de economia das imagens. É uma questão relacionada a um pensador que nos anos 1980 me marcou muito, o Andreas Müller-Pohle. Muito pouca gente leu, muito pouca gente falava nele, mas ele era o editor da revista European Photography junto com o Vilém Flusser e tinha textos maravilhosos. No fundo, o que ele chamava de princípio político da ecologia da informação eu trouxe para o território das imagens. Porque eu já era, naquela altura, uma colecionadora desses resíduos fotográficos que povoavam meu laboratório, sem saber muito bem o que fazer com aquilo. Se estava tratando da imagem como informação, para mim era natural que eu trabalhasse com os títulos. Essa era a brincadeira, essa intertextualidade forçada. Foi a partir da Pequena Ecologia da Imagem que eu assumi essa coisa de criar esses ruídos de leitura. As imagens eu ampliava com os restos de laboratório e colocava uns títulos meio malucos, alguns nonsense, ligados a uma espécie de hecatombe do mundo. Você lembra daquele filme Brazil, do Terry Gilliam? Além do visual louquíssimo, ainda tinha aquela coisa de ficar tocando Aquarela do Brasil no fundo, algo de um mundo pós terceira guerra mundial. E ali estava também minha inspiração para os títulos malucos: Nós éramos felizes antes da bomba; Feixe de elétrons rumo ao século 21… Olhei para aquilo e pensei: olha o que eu fiz em 1988! E aí ficou impossível não trazer de volta esse trabalho. Gostei muito de poder chamar a exposição de Pequena Ecologia.
Falando das obras mais recentes, há também um trabalho feito especialmente para a mostra?
Na verdade tem dois trabalhos super novos. Tem o Eaux des Colonies. É um trocadilho, infame, básico. Eu deveria ter feito ano passado uma residência lá em Colônia para pesquisar nos arquivos das indústrias de lá, só que a residência não rolou por causa da pandemia. Mas alemães são alemães e a exposição não foi adiada. A emenda saiu melhor do que o soneto. Acabei invertendo a lógica da produção do trabalho e abri meu leque, acessando tudo que me contava sobre a história da água de colônia, sobre a história da perfumaria no mundo inteiro. Acabei entendendo toda uma lógica que relacionava a água de colônia à cidade de Colônia, que era uma colônia romana, o que inevitavelmente me levou à questão da colonização. E aí ficou muito mais saboroso o trabalho, muito mais divertido. Pude agregar histórias e falar sobre colônias, sobre colonização. E sobre consumismo, universo no qual a gente está mergulhado e eu não vejo como sair.
E o segundo trabalho, que você está fazendo especialmente para a exposição?
Desde o ano passado estou trabalhando com uma ideia. Ganhei uma série de slides, que são kits educativos produzidos pelos salesianos, que são uma catequese, no sentido amplo, não é só do ensino da religião. Um material muito estranho, mas que me interessou muito porque percebi que, na questão pedagógica, praticamente nada mudou, salvo algumas coisas muito pontuais. Percebi que dentro dos problemas, ou da construção do sujeito – uma das sequências era Vida em Construção -, não se falava em racismo, por exemplo. No mais é exatamente a mesma coisa.
Estamos presos em um mesmo ciclo, como uma repetição infernal?
A gente está ali no filme Brazil, do Terry Gilliam. Aí pensei: é isso que eu vou fazer agora. Peguei a historinha do Zé Ninguém, o homem que não era Homem (com H maiúsculo), que era o nome original dessa parábola, e inverti. O Zé Ninguém virou o José Ninguém. Na história original o personagem toma “Personalina” e se torna um homem, a história dos salesianos era essa.
A gente sempre à volta com os milagres que parecem resolver tudo?
No fundo é exatamente isso. Criei uma nova ficção para um indivíduo que se chama José Ninguém. Ele é José, não um Zé. Só que ele tem uma dúvida. Vai procurar ajuda científica, que dá para ele dois tipos de tratamento: ou ele toma “Amnesilax” ou “Memorilina”. Os dois têm efeitos colaterais, nenhum diagnóstico é categórico, ele tem que escolher. Só que ele não escolhe e a vida dele continua igual. É triste, mostrei para amigos que falaram que é deprimente.

Um humor negro, uma melancolia de fundo que de certa forma perpassa teu trabalho todo, não?
É, porque eu acho que a vida é isso, a gente faz o que pode. Eu não conseguiria contar uma outra história a partir daquelas imagens, uma história que tivesse algum final feliz. É slide, não tem imagem em movimento. Não queria que nada escapasse da lógica original. Os slides são modificados, cada imagem foi atualizada. Fiz o trabalho com uma amiga, Isabel Escobar. Ela é uma das minhas editoras de vídeo e ela é fera em colagem.
Essa história me remeteu a questão da identidade e a outro trabalho seu, Espelho Diário…
Tem tudo a ver. Tanto que a gente fez a opção óbvia de colocar os dois trabalhos juntos. Nós temos à esquerda o Espelho Diário e à direita o José Ninguém. Espelho é uma das questões muito vinculadas ao universo fotográfico, desde sempre. Está em muitas questões, no tema dos negativos, dos duplos. Sempre trabalhei muito com a noção de duplo.
A exposição se organiza em três diferentes núcleos, aproxima trabalhos que lidam com as escalas do indivíduo, do coletivo e do político. Mas pelo menos nesses dois trabalhos todos estes aspectos estão presentes. No fundo, seu trabalho é político o tempo todo, mesmo quando não está explicitamente falando nisso?
Para mim essas classificações sempre são muito difíceis. Tenho certas preocupações, certas questões, coisas que me levaram a tomar certas decisões por um caminho e não por outro, e não consigo deixar de pensar nisso. Uma leitura de fora é sempre legal. Isso do que é coletivo e do que é individual, meu trabalho tem o tempo todo. E Rosângelas é um exercício explícito disso. Eu criei um personagem coletivo, falso, mas é feito de 133 casos específicos de Rosângelas. Com histórias horríveis ou engraçadas. O próprio Arquivo Universal é isso. São casos específicos, mas no momento em que eu tiro o nome, a referência histórica, você forma uma imagem que pode vir de muitos lugares.
Tem uma questão meio inevitável. Você é uma fotógrafa que raramente fotografa. Trabalha com a economia da imagem, com a circulação da imagem, mas tira todo esse lado da autoria. Hoje isso é mais comum, mas na época em que você começou a fazer era uma grande novidade. Seria interessante se você pudesse falar um pouco sobre isso.
Quando você me perguntou se eu dou importância ou não para teoria, não posso dizer que não. Lógico que dou. Muitas ideias e convicções nasceram nos anos 1980 em função de muitas coisas que eu li. E uma das coisas que me marcaram muito foi o Bourdieu. Ele fala muito dessa arte mediana, que é a fotografia. Foi por passar a entender a fotografia assim que me interessei pelo grande leque da fotografia, que de certa forma fica invisível. Ou que nunca foi muito explorado, ou não era aquilo que era o artístico. Descobri que era mais legal, muito mais interessante para mim trabalhar com tudo aquilo que não era feito com uma proposta estética por trás. E aí eu tive que aprender: fotografia científica, fotografia vernacular, o micro e macro, quer dizer, os usos científicos que você faz da imagem, desde a imagem no microscópio até aquela captada via telescópio… Tudo isso para mim era mais interessante, mais saboroso, mais instigante para discutir a fotografia do que os ensaios que se faziam, a fotografia de caráter modernista, fotografia como arte. Sempre achei aquilo chato. De fato acho que pouca gente usava, na época, o próprio meio para discutir isso. Se falava sobre isso na academia, os textos estavam ali para você ler. Mas no Brasil você tinha muito pouca gente questionando ou fazendo algum trabalho onde isso fosse visto de fato. Isso demorou para chegar aqui porque a fotografia ficou por muito tempo associada ao fotojornalismo. Querendo ou não, a gente vinha de um período de repressão. Você pedir para a fotografia deixar de ser a janela do real ou de discutir a realidade, era até muito cruel. Afinal, ela tinha essa agenda de comprometimento com a denúncia. Eu tenho muito respeito pelos fotógrafos que por muito tempo fizeram esse trabalho, dentro das condições mais difíceis do mundo. Quantos fotógrafos fizeram imagens sutis para falar de coisas tão pouco sutis? É isso, acho que havia uma inércia grande para aceitar que a fotografia podia ter uma agenda maior do que a que era aceita naquela época. E eu sempre tive isso quase como uma espécie de bandeira, entendeu? Acho que é por isso que eu sempre digo que sou fotógrafa. Sempre fui. Só não preciso fazer foto.
Isso ainda se aplica hoje?
Acho que hoje nem cabe mais, porque todo mundo faz imagem digital. Nem faz muito sentido. É que havia um nicho, por conta de uma especificidade técnica. E você tinha que dominar aquela técnica para poder trabalhar com ela. Para não fotografar eu aprendi a fotografar. Sempre fui preguiçosa na hora de fazer fotos. Pra mim foto sempre foi meio xerox. Mas eu sei, aprendi. Eu queria trabalhar com um meio e usar toda a potência possível que aquele meio me permitia.



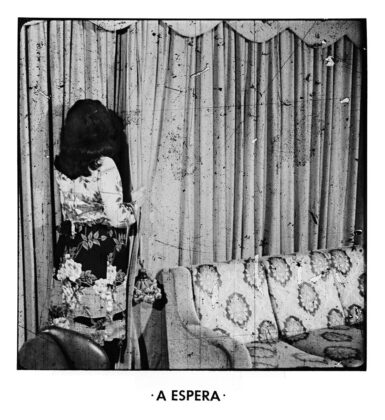


![Eaux des colonies [en construction]"](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Eaux-des-colonies-3-630x420.jpg)
![Eaux des colonies [les origines]](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Eaux-des-colonies-631x420.jpg)
![Eaux des colonies [en construction]](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Eaux-des-colonies-2-746x420.jpg)










