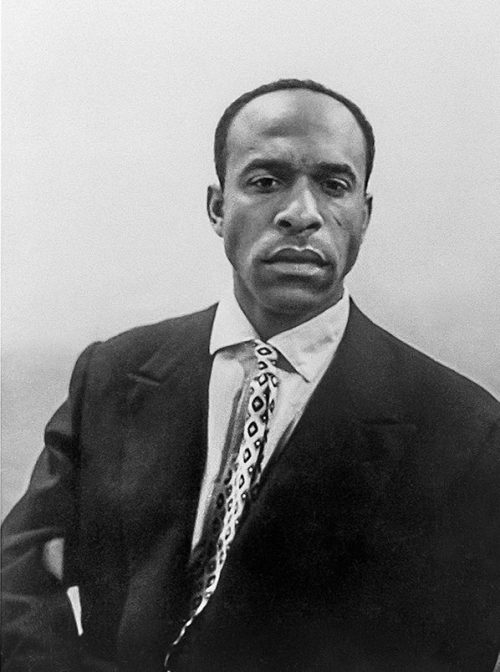*Por Eugênio Lima
Reembarcar nesse mundo Fanon foi muito intenso. Lembrei de coisas que tinha esquecido e pouco a pouco fui reconstruindo tudo, desde a minha primeira leitura, em 2014, até hoje.
A primeira vez que voltei ao livro de Frantz Fanon foi quando resolvi que ele seria a minha preparação para a mediação do debate “Arte e Sociedade: a Representação do Negro”, em maio de 2015, no Itaú Cultural em São Paulo. O debate foi realizado em resposta às manifestações do público com relação à peça A Mulher do Trem, de Os Fofos Encenam, acusada de racismo. Quero deixar explícito que mediar tal encontro não foi uma atividade fácil, tampouco agradável. Em muitos momentos, os paradoxos e contradições da função “mediador” me deixaram muito desconfortável. Apesar de entender tudo como parte de um grande processo histórico e saber que o debate teve um impacto catalisador para a discussão do racismo na sociedade brasileira e sua relação com a cultura e a arte, tal evento me traz uma lembrança ácida e órfica.

É deste ponto de partida arbitrário que inicio a minha jornada com o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952, que hoje tem uma nova edição em português feita pela Ubu Editora, que é primorosa. A leitura dessa edição, traduzida por Sebastião Nascimento com a colaboração de Raquel Barreto, começa com o prefácio da Grada Kilomba, segue com os textos complementares de Francis Jeanson e Paul Gilroy, o posfácio de Deivison Faustino e se encerra com o texto de Homi K. Bhabha. É um percurso incrível que cria uma malha intensa de contexto, reflexão, crítica e beleza e traz a magnitude e a complexidade da obra de Fanon. Ler este livro é uma imersão no pensamento do autor e não há como sair ileso. Sua escrita fere, queima e nos arremessa num turbilhão de pensamentos e sensações.
Além disso, existe a matéria do tempo que opera sobre a obra, tornando a leitura, às vezes, um exercício muito difícil, pois, diante de tanta conceituação, como encontrar uma leitura própria? Como buscar na própria obra algo que reverbere para além dela mesma? E, principalmente, se existem diversas leituras possíveis deste livro primoroso feitas a partir de escolas de pensamento e ação distintas, quem é você, leitor/leitora, neste diálogo com Fanon?
Não, cara leitora/caro leitor, eu também, como o autor, não venho armado com verdades definitivas, ou melhor, “não chego armado de verdades categóricas”. O que pretendo deixar explícito é que ler Fanon é estar diante da cisão, é caminhar num universo intenso de desejos, urgências, tensões entre cultura e classe, raça e sexualidade, ironia e poesia, voz e escritura, entre outras tantas coisas. É ser atravessado por tensões que precipitam a ruptura. Não há como buscar afirmações decisivas ou qualquer teoria geral da opressão colonial. Do meu ponto de vista, as questões levantadas são um jorro intelectual e poético. Refletir sobre elas é sempre lacunar, é perguntar: O que aconteceu? E depois juntar os inúmeros pedaços de si espalhados pelo chão. Como diz Homi K. Bhabha em seu brilhante texto Recordar Fanon, Eu, A Psique e a Condição Colonial:
“Essa alienação social extrema – esse fim da ‘ideia’ de indivíduo – produz, em Fanon, uma urgência incansável por uma forma conceitual apropriada para o antagonismo social da relação colonial. Sua obra se divide entre a dialética hegeliano-marxista, uma afirmação fenomenológica do Eu e do Outro e a ambivalência psicanalítica do inconsciente – sua passagem do amor para o ódio, do senhor para o escravo. Em sua malfadada e desesperada busca por uma dialética da salvação, Fanon explora os extremos desses modos de pensamento: o hegelianismo restaura a esperança na história; a evocação existencialista do ‘Eu’ recupera a presença do marginalizado; e a estruturação psicanalítica joga luz na “loucura” do racismo, no prazer da dor, na fantasia agnóstica do poder político” (p. 3).
Sei que o caminho ainda é longo até que possamos de fato desconstruir o ideário racista. Porém, reler Fanon é estar em pé na montanha dos horrores do mundo colonizado. É estar com olhar pousado numa sociedade que foi/é (?) escravocrata durante 400 anos, recebeu quase 40% do tráfico negreiro do mundo, teve o maior porto da história da escravidão moderna, que ainda hoje constrói apartamentos com quarto de empregada (senzalas nos apartamentos), que mata, mata, mata e continua matando suas crianças e sua juventude negra e que tem a maior população negra fora da África.
É estar diante do passado que não passa.
É ter a consciência que o “estado de exceção” em que vivemos é a regra.
É compreender cotidianamente que no mundo colonial em que vivemos a causa é a consequência, que mitos como o “Ser Humano” e a “Sociedade” perdem a sua base de sustentação e que a vida gira num círculo vicioso e delirante.
“É fato: os brancos se consideram superiores aos negros. Mais um fato: os negros querem demostrar aos brancos, custe o que custar, a riqueza de seu pensamento, o poderio equiparável da sua mente. Como escapar disso?” (Frantz Fanon)
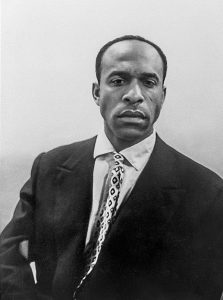
Evidentemente, neste espaço, não será possível discorrer sobre como a escravidão e o racismo moldaram e moldam a sociedade brasileira, bem como todos os países do continente americano criados a partir da “mão-de-obra negra” escravizada, ou sobre por que o Haiti, o único país das Américas a declarar independência e abolir a escravidão ao mesmo tempo, sofreu enormes boicotes e foi destruído sistematicamente ao longo da história.
“O que é meu
um homem só, prisioneiro de branco
um homem só, que desafia os gritos brancos da morte branca
(TOUSSAINT, TOUSSAINT LOUVERTURE)”.
Aimé Césarie, Diário de um Retorno
ao País Natal (1939, p. 46)
Quero deixar “claro” que o meu maior desafio ao ler Fanon foi compreender o que significa uma identidade não existir na sua própria língua, seja ela escrita ou falada. Essa mesma língua na qual escrevo mantém praticamente intacta as relações de poder e violência que a constituíram. O português preserva a sua herança colonial e patriarcal branca no centro de sua dimensão política. As palavras que usamos definem o lugar de uma identidade e para nós, negros e negras e todas as humanidades subalternas e racializadas, a primeira batalha para existir é no campo da linguagem. Como já disse o Racionais MC’s: “Essa porra é um campo minado”.
É forte a percepção de que tenho que existir imerso em uma língua que me aparta, me “denigre” e me “judia”, em um idioma no qual o universal é masculino – aliás, o próprio Fanon foi bastante criticado pela universalização do masculino como o sujeito do pensamento humano. Todos esses mecanismos nos afastam do pleno reconhecimento das humanidades racializadas, as quais foram e são transformadas pela hierarquia racial do projeto colonial em humanidades subalternas, sem agência plena no mundo dos vivos.
Mas se a presença não está inscrita na língua, o extermínio está. O genocídio negro e indígena no Brasil é uma realidade.

Assim como eu nesse artigo, Fanon escreve na língua que o aparta, que tenta embranquecê-lo e que, em última análise, o aniquila. E isso, o nosso querido Lima Barreto já sabia:
“[…] A língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original; e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática.”
Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma (1915, p. 26)
Não é por acaso que Pele Negra, Máscaras Brancas começa com um poema/introdução, no qual conceitos, poéticas, manifestos e desejos se entrecortam. Não é à toa que o primeiro capítulo seja intitulado “Negro e a Linguagem” e que a sua primeira frase seja: “Conferimos importância fundamental ao fenômeno da linguagem”. A luta é, sobretudo, sobreviver diante da linguagem que denigre, seja para existir como sujeito (agente no mundo dos vivos), seja como representação simbólica.
A seguir, algumas das palavras fanonianas que atravessaram os tempos:
“Falar é ser capaz de empregar determinada sintaxe, é se apossar da morfologia de uma outra língua, mas é acima de tudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização.”
“[…] O problema que enfrentamos neste capítulo é o seguinte: tão mais branco será o negro antilhano, quer dizer, tão mais próximo estará do homem verdadeiro, quanto mais tiver incorporado a língua francesa. Não ignoramos que essa é uma das atitudes do homem diante do Ser. Um homem que possui a linguagem possui, por conseguinte, o mundo expresso por essa linguagem e implicado por ela. Pode-se ver aonde queremos chegar: existe no domínio da linguagem uma potência extraordinária.”
Por fim, deixo aqui o convite para que mergulhem nessa jornada sem volta que é ler e reler Pele Negra, Máscaras Brancas e suportem o atravessamento da força da linguagem.
*Eugênio Lima é Dj, ator-Mc, diretor de teatro, pesquisador da cultura afro-diásporica, membro-fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, da Frente 3 de Fevereiro e do Coletivo Legítima Defesa.
Detalhes
O Sesc Vila Mariana recebe a exposição inédita Jardim do MAM no Sesc, uma correalização do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Sesc São
Detalhes
O Sesc Vila Mariana recebe a exposição inédita Jardim do MAM no Sesc, uma correalização do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Sesc São Paulo. A mostra tem curadoria de Cauê Alves e Gabriela Gotoda e reencena na entrada do Sesc Vila Mariana elementos do Jardim de Esculturas do MAM. Nela, o público poderá apreciar obras da coleção do MAM, entre esculturas icônicas de Alfredo Ceschiatti, Amilcar de Castro e Emanoel Araújo, e trabalhos que exploram críticas sociais, como as obras de Regina Silveira, Luiz 83 e Marepe.
Para a presidente do MAM, Elizabeth Machado, a parceria com o Sesc reforça o compromisso do museu em ampliar o acesso à arte: “O acervo do MAM é um patrimônio vivo, e essa exposição no Sesc Vila Mariana permite que um público ainda mais amplo entre em contato com obras fundamentais da nossa história, promovendo o encontro e a reflexão sobre a arte brasileira. O Sesc é um parceiro longevo do MAM, e essa colaboração reafirma nossa missão conjunta de ampliar o acesso à cultura.”
Os artistas participantes da mostra são Alfredo Ceschiatti, Amílcar de Castro, Bruno Giorgi, Eliane Prolik, Emanoel Araujo, Felicia Leirner, Haroldo Barroso, Hisao Ohara, Ivens Machado, Luiz83, Marepe, Mari Yoshimoto, Márcia Pastore, Mário Agostinelli, Nicolas Vlavianos, Regina Silveira, Roberto Moriconi, Rubens Mano e Ottone Zorlino.
A seleção de obras inclui peças que já integraram o Jardim do MAM, além de trabalhos do acervo do museu que dialogam com temas como natureza, cidade e materialidade. A montagem no Sesc Vila Mariana recria a dinâmica do Jardim de Esculturas, utilizando elementos cenográficos que evocam a topografia sinuosa do Parque Ibirapuera projetada pelo escritório do emblemático arquiteto paisagista Burle Marx, estimulando novas interações entre corpo, espaço e arte.
Inaugurado em 1993, o Jardim de Esculturas do MAM marca uma iniciativa que reavivou a coleção do museu em um espaço próprio, gratuito e de grande circulação de pessoas. “Ao propor uma espécie de reencenação do Jardim do MAM na Praça Externa do Sesc Vila Mariana buscamos elaborar a ideia de que, assim como o espaço do jardim no Parque Ibirapuera, o espaço do Sesc funciona como um centro de encontros urbanos”, diz Cauê Alves. “A exposição inclui obras da coleção do MAM que se relacionam, por diferentes vias, com a natureza, o corpo, a cidade, a materialidade, e com linguagens que expressam algumas das tensões inescapáveis à sociedade.”, completa o curador.
A proposta da exposição do Jardim do MAM no Sesc Vila Mariana é estimular essa relação entre corpos, obras e espaço, transformando a Praça Externa da unidade em um território de circulação, experimentação e descoberta. Sem a pretensão de emular o paisagismo do parque, a cenografia do projeto recria as curvas e volumes que marcam o jardim original, propondo um ritmo espacial entre as esculturas. Para Gabriela Gotoda, curadora da exposição ao lado de Cauê Alves: “Se o princípio mais original e autêntico da arte moderna é de que ela se aproxima da vida, um museu que se dedica a colecioná-la e atualizá-la no seu tempo presente deve continuamente se esforçar para oferecer aos públicos possibilidades de fruição que não os distanciam das suas realidades, e sim vão de encontro a elas.”
MAM Educativo
Durante o período da exposição, o público poderá participar gratuitamente de atividades educativas promovidas pelo MAM Educativo, que desenvolve programas e projetos em diálogo com seus públicos, por meio de uma programação acessível e gratuita que busca equiparar oportunidades e reduzir barreiras físicas, sensoriais, intelectuais, sociais ou de saúde mental.
Inspiradas nas experiências realizadas no Jardim de Esculturas do museu no Parque Ibirapuera, parte das ações de maio do MAM Educativo serão adaptadas ao espaço do Sesc Vila Mariana, propondo diferentes formas de interação entre corpos, obras e o ambiente expositivo. Voltadas a públicos de todas as idades e perfis, as atividades buscarão estimular novas formas de olhar, habitar e refletir sobre o espaço urbano por meio da arte.
As atividades serão divididas em programas. “Contatos com a arte” promove a formação cultural de professores, educadores, pesquisadores e estudantes universitários, fomentando seu papel de multiplicadores das diferentes expressões artísticas e abordagens pedagógicas a partir de processos criativos diversos. Já “Família MAM” promove o encontro do universo artístico do museu com as culturas da infância, através de narrações de histórias, brincadeiras, oficinas artísticas, visitas mediadas seguidas de experiências poéticas, entre outras atividades. Em “Domingo MAM” estão atividades que convidam o público a experimentar diversas linguagens artísticas a partir de eixos temáticos que englobam dança, música, cultura popular, cultura de rua, debates e oficinas plásticas.
Tem ainda o “Programa de Visitação”, que atende a todos os perfis de público e incentiva o acesso à arte e à cultura por meio do exercício do pensamento crítico. Fazem parte do programa visitas mediadas, experiências poéticas e o programa de relacionamento com escolas parceiras. Visitas mediadas com o MAM Educativo são conversas nas quais é estimulada a reflexão crítica por meio da arte e experiências poéticas, que aproximam o público do museu de vivências e processos artísticos. Agendamentos de grupos para visitas na exposição Jardim do MAM no Sesc são realizados pelo e-mail educativo@mam.org.br.
A programação traz ainda atividades que fazem parte da Semana Nacional de Museus – iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio) e que, em 2025, acontece de 12 a 18 de maio sob o tema “O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação” – e da Semana Mundial do Brincar – ação promovida pela Aliança pela Infância que convida a sociedade a valorizar o brincar e a importância da infância e que, em 2025, terá como tema “Proteger o Encantamento das Infâncias” e ocorrerá de 24 de maio a 1 de junho.
Serviço
Exposição | Jardim do MAM no Sesc
De 14 de maio a 31 de agosto
Terça a sexta, das 7h às 21h30, aos sábados, das 10h às 20h30, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h
Período
14 de maio de 2025 07:00 - 31 de agosto de 2025 21:30(GMT-03:00)
Local
Sesc Vila Mariana
Rua Pelotas, 141 - Vila Mariana – São Paulo - SP
Detalhes
Um celeiro em chamas. Um sonho-memória. Uma atmosfera enevoada. O silêncio e o tempo suspensos. A cena é captada em um plano lento e alongado em que a câmera
Detalhes
Um celeiro em chamas. Um sonho-memória. Uma atmosfera enevoada. O silêncio e o tempo suspensos. A cena é captada em um plano lento e alongado em que a câmera vai se aproximando. Um plano sequência da personagem que atravessa silenciosamente o campo e se depara com o celeiro completamente tomado por labaredas, sendo consumido pelo fogo. O som das fissuras da madeira se dissolvendo em chamas e a fumaça cinzenta envolvendo o local e ela, esperando, imóvel diante do colapso inevitável, reverenciando o que é maior que sua pequeneza. A cena, retirada de “O Espelho” de Andrei Tarkovsky, reflete sua trajetória fílmica da meditação visual. Diante do tempo, da transformação e da fragilidade da vida, as chamas se condensam e o que permanece é a percepção da contemplação, do abalroamento da dimensão interna mental com o externo.
Turvo Reflexo é o entre, que oscila entre o visível e o oculto, em camadas translúcidas que se completam a cada olhar atento, a relação reflexiva sobre a velatura e a capacidade turva. Diante do conjunto matérico de João Trevisan somos convocados a esperar o esticamento do tempo, bem como a personagem não corremos para apagar o fogo, sentimos uma calma irrompente que evoca uma presença contemplativa, do corpo diante da matéria, Trevisan esculpe o tempo e hipnotiza como Tarkovsky.
Trevisan opera no alongamento da percepção, agindo em parceria com a matéria, forja e embosca sua técnica e azeita a própria linguagem. Há uma reflexão compositiva de seu trabalho, a imagem que se dissipa e envolve o olhar, que percorre a claridade, a luz se apresenta como uma partitura, em que cada pintura emite uma vibração. A exposição nos permite acessar cinco séries de sua produção, algumas ainda inéditas – Concomitante, Paisagens, Unidade luminosa, Monocromo e Intervalos. São atos compositivos de um grande motivo, como em uma ópera, ao se referirem ao mesmo universo, em diálogo dos pares e coesos com a peça completa. As séries são interligadas intimamente, em 2018 pintou o primeiro Monocromo, mesmo ano que pintou o primeiro Intervalo, isso demonstra o desdobramento de seu processo. Deriva de um modo não linear e ramificado, em que não há centro e hierarquia, mas que paradoxalmente, tudo é central, os blocos densos de cor são unidos pela fatura, se prolongando uns dos outros.
Diante de uma contemporaneidade em que tudo é descartável, instantâneo e comprimido, o tempo se torna alongado e embarcar na luminosidade da pintura é ampliar o sensível. João Trevisan nos convida a habitar o espaço do silêncio e da contemplação ao consolidar a pintura no tempo dilatado.
Os títulos nos trazem informações óbvias com toques curiosos, ora mais diretos, ora mais lúdicos. Nos versos das obras há algumas deliciosas surpresas, rastros deixados pelo artista, que nos aproximam de sua presença, como em Intervalos, nas manhãs, eu sinto falta de você.
As gradações de cor variam na espessura, demonstrando maior ou menor opacidade, em que camadas mais profundas transparecem e se interferem. Notamos a destreza técnica do artista, em que as cores, mesmo quando empregadas sempre da mesma maneira, são sempre diferentes, se os pretos irão se complementar ou interferir nas cores de cobertura, se aparecem ou se dissolvem, e indicam uma coparticipação entre a tinta a óleo e o veludo criado pela encáustica.
Insere de modo singular pequenos desafios ao olhar, certas irregulares propositais, como em Concomitantes. Deslocamentos sutis, como uma pequena margem no início de um parágrafo, demonstram uma racionalidade em pensar o trabalho de maneira calculada, mas não apenas, há algo de intuitivo na relação das cores, o processo de feitura é metódico, desde a profundidade do chassi até a finalização. Esse jogo da percepção só é criado no contato com o presenciador, que ao botar reparo em deslizes das formas, evidencia a força propositiva do artista em suas ondas cromáticas ritmadas.
A tela é encorpada, inicia com camadas de gesso cruzadas, diluídas até o ponto de engrossarem, adicionando corpo ao processo, para então seguir com a adição de dez a doze camadas de preto. Transborda a fatura e articula o corpo da pintura a partir do hábito da repetição. Quando secas, realiza a velatura da superfície, uma cobertura diáfana com o preto, em que as cores sutilmente se invisibilizam, e com a limpeza posterior, o corpo pictórico se eleva ao equilíbrio. Retira o excesso, deposita luz, deposita pigmento, esculpe o corpo da pintura ao modelar sua relação com a luz. Elabora um processo de enceramento da pintura, em que as ranhuras vão sendo preenchidas pelos pretos, sendo possível a percepção da luminosidade residual proveniente da base branca, revelando o processo de retração do pigmento com a secagem, quando suas partículas se adensam e se aproximam, revelando parcialmente o fundo.
Há uma vontade derivada da escultura, de um ciclo poético que surge do papel, retorna para as esculturas e eclodem nas pinturas. As linhas se manejam no tridimensional como no bidimensional, sua fatura pictórica ergue-se como forma no campo escultórico. Modela fibras de tinta, ocasionando uma ilusão luminosa pelo volume, há um certo aspecto enigmático de tentar decifrar de onde vem a cor e para onde vai a centelha cromática. Engendra um método repetitivo que beira a meditação budista, repete o processo, repete a forma, repete o preparo e as camadas. A relação com a pintura é corpórea, na qual o gesto do artista se prolonga e o que vemos é o turvo reflexo do derramamento de Trevisan.
O artista é atravessado pela vida fora do ateliê, conduz sua feitura por contaminações urbanas, a capital do país, Brasília, não é apenas sua morada, mas é igualmente o habitar da pintura. Quando seca, a paisagem da cidade revela um vermelho terroso, o cerrado em sua constituição genuína, berço do Pequi e do Baru. Por vezes visualiza um ar menos árido, um momento mais orgânico e nutritivo – Trevisan é permeado por essas manifestações, se deixa ser infiltrado.
A percepção está no campo sensorial, sua prática se completa na ativação do olhar do observador, que deixa de ser externo e se torna parte constituinte da projeção das cores, o encontro quintessencial entre o corpo matérico e o corpo sensível. Somos convocados a nos aproximar e afastar dos trabalhos, de modo que Trevisan propicia uma experiência visual da imersão em seu universo, uma forma emocional de estar diante do seu contorno. A feitura pictórica é uma conversa atenta entre a matéria e o fazer poético, a aplicação da cor é tão relevante quanto a escolha desta. A coincidência da opacidade com o brilho e o encontro da encáustica com o volume do óleo, revelam como a pintura conserva vestígios do instrumento e da performance gestual com o material, o artista indubitavelmente está ligado às veleidades e aspirações da matéria.
Um pulso rítmico nas formas que se repetem na construção matérica, nos deslocamentos e nos espaços, na potência da presença das cores sobre as outras. A poética de Trevisan é uma chama que se espalha pelo celeiro, não como destruição mas como um processo de disseminação. Se torna carvão, fuligem e a fumaça que alastra o ambiente, se dissipa em neblina de maneira sutil. O rastro nevoeiro é uma potência, o que se vê e sente vai gradualmente sendo velado e se transmuta, recobre a paisagem, interrompe a percepção e convoca a pausa. A rendição do tempo e a espera do revelar o que é fugidio ao olhar é como experienciamos Turvo reflexo.
A veladura na trama da superfície é a névoa ramificada pelo espaço expositivo, uma vinculação rítmica que emana de todos os trabalhos, o locus da pintura é sempre revisitado, se articula em outras tantas possibilidades, que ciclicamente retornam e se complementam. Ao embarcar em sua prática poética, notamos nuances, sutilezas da fatura da pintura que vão se consolidando no olhar de quem se depara com suas paisagens geometrizantes e, em Turvo Reflexo, nos absorvemos em uma ocupação luminosa e contemplativa de João Trevisan.
Serviço
Exposição | Turvo Reflexo
De 15 de maio a 19 de julho
Segunda a sexta, 10h às 19h, sábado, 10h às 15h
Período
15 de maio de 2025 10:00 - 19 de julho de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Simoes de Assis Curitiba
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2173a - Batel Curitiba - PR
Detalhes
O grid só existe quando criado, é uma estrutura organizacional, composta por linhas horizontais e verticais que desenham um sistema de divisão no espaço, de modo que não é
Detalhes
O grid só existe quando criado, é uma estrutura organizacional, composta por linhas horizontais e verticais que desenham um sistema de divisão no espaço, de modo que não é encontrado organicamente no meio ambiente. André Azevedo combina a vontade de desafiá-lo com a investigação de imagens botânicas, operando em um campo de torção da escrita tradicional e do código visual.
Na mostra Escrita-miragem nos deparamos com um universo singular, apresentado pela primeira vez nessa profundidade, que navega em nuances cromáticas, em que o azul, vermelho, verde e preto adentram o tecido e se transformam em figuração. Vivemos sob o domínio de códigos que se superpõem à experiência do mundo e nos afastam da realidade direta, e é nesse mundo codificado em que/no qual Escrita-Miragem atua. André Azevedo é um organizador de sinais, um semiólogo em ação, sua poética investiga possibilidades plásticas da datilografia, um equilíbrio entre a dureza da máquina e o lírico da representação figurativa floral.
A obra Datilográfica 9 engendra uma abstração e promove a abertura para novos universos. Estar diante dessa peça é como quando há décadas e décadas atrás sintonizávamos as estações do rádio. Um mobiliário/meio de comunicação, o rádio permite sentir as ondas sonoras das estações que transmitem sinais eletromagnéticos em determinadas frequências, em que sintonizamos até encontrar uma frequência dentro do circuito. Datilográfica 9 é o tuning da exposição, nos convoca a adentrar nessa frequência e apreciar uma apreensão poética do mundo codificado.
Azevedo sintoniza a partícula mínima que é uma letra, parte da palavra imagem e a decompõem, recompõe, refaz, reconstrói, e a transforma em imagem. As obras em tecido de algodão não possuem moldura, as laterais esticadas em chassi de madeira são atreladas à feitura da datilografia, em alguns trabalhos existem pequenas pistas de que a imagem é forjada por caracteres. O revelar de camadas se torna evidente com os papéis carbono, aos quais é possível ver cada letra que atravessou a superfície e se tornou luz, virou partitura visual.
Acerca da escolha das imagens projetadas, as ilustrações retomam a vida e os elementos naturais da terra e foram apropriadas do livro “Historia Natural: Vida de los animales, de las plantas y de la tierra – Botánica”, advinda de coleções enciclopédicas ilustradas, populares nos séculos XIX e XX, em uma vida pré digital. A obra mimetiza a gramática da máquina e, em paralelo, a corrompe poeticamente, abrindo rachaduras no sistema de significação. As flores, galhos, ramagens materializam-se nos Is Ms As Gs Es e Ms em um diálogo ritmado entre a rigidez maquínica e a organicidade efêmera.
As relações com a pintura se estreitaram. Azevedo opera o têxtil com o pensamento pictórico e alarga as possibilidades de tradução de imagem por um retorno ao analógico. Em obras que replicam figuras, ao primeiro olhar, são iguais, mas para a observação mais atenta, elevam-se pequenas discrepâncias de coloração, desenhos que se delineiam de outra maneira, fazendo com que os trabalhos repetidos sejam absolutamente singulares em sua formação.
Utiliza um software que pixeliza a imagem e traduz em código para realizar uma imagem, a tecnologia já existe no campo da estamparia, mas é na tradução imagética que Azevedo a ressignifica, a partir do carbono e do gesto se adiciona individualidade a peça, ao subverter a reprodutibilidade técnica pelo imprevisível. A escrita escapa ao controle e a aura insiste em aparecer. Azevedo apropria-se da mecanicidade do aparelho, deixando a escrita por conta da máquina, instruindo os canais a distribuírem tinta em forma de sinais gráficos, cobrindo a superfície para, depois, encobri-la de maneira que seja apresentado algo imageticamente, produzindo um contraste entre a cor da tinta e da superfície.
A escritura é a ciência das fruições da linguagem, a possibilidade de uma dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute, para Roland Barthes, o texto escrito sempre dá uma prova do desejo: é a própria escritura. O que Azevedo propõe é transbordar a escrita, sua prática concebe pela escritura um espaço de fruição poética e novas formas de percepção imagética.
A abordagem pictórica é tanto matérica como mental. O artista se apoia em pensamentos como de Vilém Flusser, em que a cultura é a tentativa de enganar a natureza por meio da tecnologia, da maquinação. As regras numéricas inventadas pelo ser humano, em abstrato, são capazes de descrever, explicar e até prever a experiência sensorial. Tão poderosos são os códigos que construímos a partir deles versões alternativas da chamada realidade, mundos paralelos, múltiplas experiências do aqui e agora. Nesse entendimento, todo artefato é produzido por meio da ação de dar forma à matéria seguindo uma intenção, a manufatura corresponde ao sentido estrito do termo in + formação, dar forma a algo – na poética de Azevedo, de traduzir letra em imagem.
O aparelho se torna não apenas um dispositivo mecânico, mas uma entidade complexa, um compasso entre tecnologia, cultura e a humanidade. A intervenção/interação tecnológica organiza e transforma a realidade e a arte, modulando novos modos de vivência. Ao datilografar, Azevedo organiza sinais gráficos e os desenha, deixando a ação e o pensamento em completa coesão.
A máquina de escrever atua como mediadora entre a natureza e a cultura, criando uma outra camada de complexidade na relação entre o artista e o espectador. Esse aparelho também influencia a comunicação, criando novas formas de expressão e interpretação. Nesse sentido, a tecnologia não é apenas um meio de transmissão de informação, é também um sistema que molda o significado e a mensagem. A prática poética de Azevedo, além de orientar os pensamentos, atua de forma direta no encontro com o outro, sendo apenas quando uma obra escrita encontra o outro que ela alcança sua intenção, uma espécie de ato criador.
Ao investigar diversas possibilidades plásticas da datilografia sobre o suporte têxtil, gera imagens a partir da tipografia, em que cada algarismo imprime sua marca na superfície, com manchas de diferentes intensidades. Nessa lógica de operação, André encontra um possível destino para a escrita no processo de transformar a tipografia em textura e a escrita em imagem. Reconfigura a datilografia em forma visual, adicionando corpo de matéria ao fugidio.
Escrita-Miragem é uma tentativa de capturar o que se dissolve, do movimento de se aproximar e se afastar para decifrar o desenho que atravessa o carbono e se pigmenta na tela, elaborando uma superfície simbólica. É dessa forma que o artista recupera um possível destino para a escrita, híbrida, técnica e sensível, em que o código provoca e projeta um futuro para a escrita a partir da visualidade. Futuro esse que é indisciplinado, e sobretudo, dinâmico. André Azevedo decodifica um futuro do passado.
Mariane Beline e Luana Rosiello
Serviço
Exposição | Escrita-miragem
De 27 de maio a 26 de julho
Segunda a sexta, 10h às 19h, sábado, 10h às 15h
Período
15 de maio de 2025 10:00 - 19 de julho de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Simoes de Assis Curitiba
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2173a - Batel Curitiba - PR
Detalhes
Temos o prazer de anunciar SPECTRUM, exposição individual de Siwaju no Prédio 11 d’A Gentil Carioca, no Rio de Janeiro. A prática escultórica da artista investiga as relações entre tempo e
Detalhes
Temos o prazer de anunciar SPECTRUM, exposição individual de Siwaju no Prédio 11 d’A Gentil Carioca, no Rio de Janeiro. A prática escultórica da artista investiga as relações entre tempo e ecologias diversas. A partir do reaproveitamento de peças de aço — doadas, coletadas e recicladas em visitas frequentes a centros de reciclagem —, suas obras estabelecem um vínculo direto com o pensamento tridimensional brasileiro. Suas esculturas articulam matéria e Cosmos, energias visíveis e invisíveis, objeto e entorno, corpo escultórico e espaço, organizando-se em uma temporalidade espiralada, em constante fluxo de expansão e retrospecção, que ativa saberes afrodiásporicos.
“Desdobram-se pelo espaço ‘famílias de obras’ interligadas, cada uma com gramáticas e gestos próprios, mas todas atravessadas pelo desejo de criar zonas de interferência onde passado e futuro, beleza e libertação coexistem em tensão criativa. Como uma ferreira do século XXI, Siwaju não molda o aço, mas negocia com seus espectros: as soldas nascem como costuras entre tempos, as superfícies polidas devolvem reflexos desobedientes, os sussurros da matéria, sugere a artista, nos levam a fuga da lógica industrial.” — aponta a curadora Nathalia Grilo, autora do texto de apresentação da mostra, que fica em cartaz até 9 de agosto de 2025.
Serviço
Exposição | Spectrum
De 24 de maio a 09 de agosto
Segunda a sexta, das 12h às 18h
Sábado, das 12h às 16h (com agendamento prévio)
Período
24 de maio de 2025 12:00 - 9 de agosto de 2025 18:00(GMT-03:00)
Local
A Gentil Carioca
Rua Gonçalves Lédo, 17 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20060-020
Detalhes
A Gentil Carioca tem o prazer de anunciar Desde sempre o mar, exposição individual da artista Mariana Rocha no prédio 17 d’A Gentil Carioca Rio de Janeiro. Inspirada pela vastidão marítima
Detalhes
A Gentil Carioca tem o prazer de anunciar Desde sempre o mar, exposição individual da artista Mariana Rocha no prédio 17 d’A Gentil Carioca Rio de Janeiro. Inspirada pela vastidão marítima e pelos mistérios da vida microscópica, Rocha mergulha em um universo onde as fronteiras entre ciência, mito e arte se dissolvem. A mostra reúne pinturas inéditas que transitam entre figuração e abstração, evocando formas orgânicas como raízes, cílios, braços e membranas — elementos que se desdobram como símbolos da origem e da continuidade da vida.
Nas palavras do historiador da arte e curador Renato Menezes, que assina o texto de apresentação da mostra, “Mariana Rocha trapaceia a escala e, assim, a própria pintura parece se tornar, para a artista, um meio de reequacionar os mínimos essenciais da vida. Partícula e todo, célula e organismo, gota e oceano renegociam suas ordens de grandeza bem diante de nossos olhos. Não é por acaso que sua pesquisa se volta para o mar: foi lá, nessa vastidão imensa e profunda, que as mais simples formas de vida começaram a aparecer. Mas, como sempre, o mínimo é também o máximo: barroca, dramática, misteriosa e vibrante, sua pintura metaboliza o mundo, para ver, de sua parte mais íntima, obscura, o que de mais superficial ele pode revelar.”
Serviço
Exposição | Desde sempre o mar
De 24 de maio a 09 de agosto
Segunda a sexta, das 12h às 18h
Sábado, das 12h às 16h (com agendamento prévio)
Período
24 de maio de 2025 12:00 - 9 de agosto de 2025 18:00(GMT-03:00)
Local
A Gentil Carioca
Rua Gonçalves Lédo, 17 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20060-020
Detalhes
Inspirada em trabalho de Dorothea Tanning, mostra marca nova etapa do espaço expositivo Anexo, mais um passo na trajetória de vanguarda da galerista Marilia Razuk, há mais de três
Detalhes
Inspirada em trabalho de Dorothea Tanning, mostra marca nova etapa do espaço expositivo Anexo, mais um passo na trajetória de vanguarda da galerista Marilia Razuk, há mais de três décadas em atuação
A Galeria Marilia Razuk, inaugura uma programação de projetos para o seu espaço localizado no número 62 da Rua Jerônimo da Veiga, que passa a se chamar Anexo Galeria Marilia Razuk. Para marcar essa nova fase, Razuk acolhe a exposição “Sala de Jantar”, com a proposta de exibir obras em um contexto que remete ao ambiente que lhe dá nome.
Com referência ao trabalho Hôtel du Pavot, Chambre 202 (1970-1973), da artista e poeta estadunidense ligada ao Surrealismo Dorothea Tanning, a consultora de arte Cristina Tolovi e a curadora Luana Fortes concebem a mostra se aproximando dos aspectos velados dos espaços domésticos. Elas apresentam obras de artistas e designers, não se apegando a separações entre essas duas esferas da criação. Como conta Tolovi: “A proposta é uma exposição em que diferentes linguagens dialoguem, por meio de uma diluição de fronteiras entre design e artes visuais.”
Luana Fortes destaca: “A mostra nasce de trabalhos de artesãos-artistas-criadores-designers que formam um conjunto de diferentes linguagens e formas de expressão, procurando desestabilizar o que se entende por obra de arte e objeto, guardando tensões do próprio sistema artístico e também das relações fora dele.”
Diferentemente do que vem à mente quando se escutam as palavras “Sala de Jantar”, a mostra tem o intuito de, assim como o trabalho de Tanning, apresentar essa “ambivalência, esse ‘desconforto’ gerado pela separação entre o que está vivo e o que parece imóvel”, nas palavras de Luana, que segue: “Assim, a mostra reúne artistas de diferentes trajetórias e formas de expressão para compor um ambiente que remete a um espaço preparado para o encontro, mas também atravessado por tensões e gestos de controle.”
A galerista, Marilia Razuk, concorda e completa: “A partir desta exposição, buscamos abrir portas para novas ideias, formatos e narrativas curatoriais. Queremos trazer um olhar fresco, sem os vícios que são normalmente adquiridos ao longo dos anos, assim como acolher práticas experimentais e perspectivas inovadoras.”
O trabalho de Fernanda Pompermayer está entre os destaques da mostra. ‘Anúncios cósmicos’, uma obra inédita da artista curitibana, apresenta formas inusitadas por meio transformação e combinação de diferentes materiais, entre os quais estão cerâmica esmaltada, vidro, resina, ouro e madrepérola. Outro nome importante da exposição é o artista visual Daniel Jorge, que exibe trabalhos como ‘Ancestral’. Sua pesquisa se debruça sobre o senso de pertencimento e novas imagens de identidade ao trabalhar com materiais fundamentais para o imaginário afrodiaspórico, como a rocha pedra sabão.
A pintura “Sem retorno ao paraíso” marca a presença de Giulia Bianchi em “Sala de Jantar”. A artista vem desenvolvendo estratégias que possibilitam investigar novas possibilidades de percepção que vão além do óbvio, alterando a escala visual, seja devido aos traços e texturas implícitas em suas pinturas, seja devido à sinestesia provocada por elas. Ana Dias Batista, por sua vez, traz para a exposição trabalhos como “O ovo e a concha”. A prática artística de Ana Dias Batista frequentemente envolve a apropriação de objetos do cotidiano, reorganizando-os de maneira a questionar suas funções originais e provocar novas interpretações.
Serviço
Exposição | Sala de Jantar
De 27 de maio a 26 de julho
Segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 11h às 15h
Período
27 de maio de 2025 10:00 - 26 de julho de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Galeria Marilia Razuk
Rua Jerônimo da Veiga, 62 – Itaim Bibi, São Paulo - SP
Detalhes
Porto Alegre respira arte com seu mais importante festival. A 14ª Bienal do Mercosul ocupa espaços e ruas e ganha novos ares, imagens e texturas no Centro Histórico com
Detalhes
Porto Alegre respira arte com seu mais importante festival. A 14ª Bienal do Mercosul ocupa espaços e ruas e ganha novos ares, imagens e texturas no Centro Histórico com a inauguração da exposição “Poéticas do Fio – Tramas Nossas” neste sábado, 24 de maio, das 14h às 16h30 na Galeria Duque. A mostra integra o Projeto “Portas para a Arte” da Bienal, que também ocupa a Rua Duque de Caxias em frente à galeria com a instalação “A Arte Conecta”. A curadoria é de Daisy Viola e a exposição fica no espaço até o dia 12 de julho. Entrada franca.
A Galeria Duque ainda oferece uma imersão nas obras de grandes mestres do Brasil com um dos mais completos acervos do Estado. Na mostra “Poéticas Daqui” é possível conferir produções de nomes como Iberê Camargo, Carlos Scliar, Carlos Vergara, Di Cavalcanti, Leopoldo Gotuzzo, Danúbio Gonçalves, Cândido Portinari, Siron Franco, Burle Marx, Anita Malfatti, Ruth Schneider, Maria Lídia Magliani, Frans Krajcberg, Alice Soares, Márcia Marostega, Nelson Jungbluth, Tarsila do Amaral, Gelson Radaelli, Antonio Bandeira, Oscar Crusius, Fernando Baril, Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues, João Luiz Roth, Ione Saldanha, entre outros.
A mostra “Poéticas do Fio – Tramas Nossas” apresenta produções de quatro artistas que utilizam fios e/ou tecidos como suporte ou meio de expressão para sua atividade: Daisy Viola, Fernando da Luz, Fernando Lima e Rosane Morais. “A utilização do fio e do tecido no fazer artístico dialoga com questões sociais e culturais a partir da escolha de materiais e técnicas, como costura, bordado, crochê ou tricô, que fazem parte da história de vida de muitos de nós, das memórias, principalmente femininas, das nossas avós e mães. Assim, o uso de técnicas da artesania tradicional acaba sendo um ponto de encontro entre a tradição e a contemporaneidade”, explica a curadora Daisy Viola.
Já quem passar pela Rua Duque de Caxias vai ter um outro tipo de contato com a arte, mas que também envolve fios e tramas. É a instalação “Arte Conecta”, produzida pelos artistas Roberto Freitas, Adriana Leiria e Ronaldo Mohr. A obra levou dois meses para ser montada e expõe 50 metros de material reciclado, incluindo itens como estofarias e PET, em uma manifestação artística que liga à Galeria Duque ao outro lado da rua e que comprova que a arte é democrática e pode estar presente nos mais diversos espaços.
Serviço
Exposição | Poéticas Daqui
De 24 de maio a 12 de julho
Segunda a sexta, das 10h às 18h, sábados, das 10h às 17h
Período
28 de maio de 2025 10:30 - 4 de agosto de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Galeria Duque
Duque de Caxias, 649 – Porto Alegre - RS
Detalhes
A Nara Roesler São Paulo tem o prazer de convidar para a abertura da exposição “Sangue Azul”, com novos e inéditos trabalhos de Marcos Chaves. As obras são resultado
Detalhes
A Nara Roesler São Paulo tem o prazer de convidar para a abertura da exposição “Sangue Azul”, com novos e inéditos trabalhos de Marcos Chaves. As obras são resultado de uma pesquisa iniciada em 2013, em que o artista imprimiu em tapetes fotografias que fez de tecidos variados da Coleção Eva Klabin, dentro do 17º Projeto Respiração, na Fundação Eva Klabin, no Rio de Janeiro. Na grande sala de pé direito duplo, no lado esquerdo da galeria Nara Roesler, Marcos Chaves vai criar um ambiente imersivo com baixa iluminação, e foco nos tapetes pendurados nas paredes, todos produzidos em 2025. As dimensões das obras variam de 200 x 266 cm a 150 x 112,5 cm. Cobrindo todo o chão estará um carpete de 5,90 m x 8,39m, versão em grande escala de uma fotografia de 2013, feita de um veludo da Coleção Eva Klabin. Os tapetes nas paredes, em tons de vermelho, reproduzem as fotografias feitas pelo artista do chão acarpetado de locais históricos europeus, como o Palazzo Doria Pamphilj, construído em Roma, no século 16; a escadaria que leva ao único trono existente de Napoleão Bonaparte (1769-1821), no Castelo de Fontainebleau, na França, residência dos reis franceses, e que data dos primórdios do século 12; e a Ópera Garnier, projetada durante o reinado de Napoleão III (1808-1873), o décimo-terceiro palácio a abrigar a Ópera de Paris, fundada por Luís XIV.
“Gosto muito da ideia de degradê, da cor que vai sumindo, e de seu significado em francês também de degradado, coisa gasta, decadente. Com o uso ao longo do tempo, é possível ver nesses tapetes europeus suas várias camadas, em que a trama sobressai e forma um grid. Também ficam visíveis marcas do peso sobre o chão em que o tapete está colocado, formando baixos-relevos. Essa ideia de coisa gasta e a geometria que surge são o que gosto nesse trabalho, que acaba por quase ser uma homenagem à pintura, como se eu estivesse pintando com a fotografia e o pelo do tapete”, conta Marcos Chaves. Alguns trabalhos criam uma perspectiva “ao contrário”, como o que traz os degraus para o trono de Napoleão, e que estará na fachada da galeria, na vitrine.
“OUR LOVE WILL GROW VASTER THAN EMPIRES”
Na primeira sala da exposição, Marcos Chaves vai mostrar três objetos, também na cor vermelha. O primeiro é “Our Love Will grow vaster than empires” (2025), verso do poeta inglês Andrew Marvell (1621–1678) inscrito em um pedaço de veludo e fincado na parede por um canivete suíço. A obra é derivada de um trabalho de 1991, “MessAge”, com canivete e plástico. Os dois outros trabalhos são “readymade”, de 1992 – a bolsa “Jaws”, descoberta por Marcos Chaves emuma feira tipo “mercado de pulgas”, e “Sem título”, um par de sapatos de salto alto encontrado na rua, em uma áreafrequentada por travestis.
O texto crítico é de Ginevra Bria,curadora com vinte anos de trajetória, dedicada a examinar as artes moderna e contemporânea no Brasil. Ela é professora-assistente na Unicamp, onde finaliza sua dissertação iniciada há seis anos para seu PhD em História da Arte na Rice University, em Houston, EUA – “The NoncolorofIndigeneity. Na Art History of Scientific Racism in Brazil, 1865-1935”.Em seu texto sobre a exposição de Marcos Chaves na Nara Roesler São Paulo ela enfatiza: “Em total admiração pela prática da pintura, que Chaves nunca abordou e formalizou, ‘Sangue Azul’ entrelaça fotografias, instalações e esculturas”. “Mas, como eixo expositivo, a fotografia toma emprestado os títulos das obras às contradições de supremacia da nobreza, da política e das uniões de razão de ser históricas (citando espaços de poder como Fontainebleau, Pamphilij e Garnier”. GinevraBria destaca ainda que “neste projeto, entre o lento apagamento das dimensões verticais e horizontais, cada elemento representado, ou ampliado, é hipostasiado num movimento temporal, enquanto a nobre dinâmica dos vermelhos é intemporal. E enobrecida”.
Serviço
Exposição | Sangue Azul
De 07 de junho a 16 de agosto
Segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 11h às 15h
Período
7 de junho de 2025 10:00 - 16 de agosto de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Galeria Nara Roesler - SP
Avenida Europa, 655, São Paulo - SP
Detalhes
O Centro MariAntonia da USP inaugura, no dia 7 de junho, a partir das 11h, a exposição O silêncio da tradição: pinturas contemporâneas, organizada por Rodrigo Naves, referência na
Detalhes
O Centro MariAntonia da USP inaugura, no dia 7 de junho, a partir das 11h, a exposição O silêncio da tradição: pinturas contemporâneas, organizada por Rodrigo Naves, referência na crítica e no ensino de história da arte no Brasil. A mostra apresenta obras de doze artistas visuais emergentes, participantes de um grupo de estudos conduzido por Naves desde abril de 2024. A visitação acontece de terça a domingo, e feriados, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita.
Com encontros semanais voltados à história da arte, o grupo é formado, em sua maioria, por artistas com trajetória ligada ao curso Pintura: prática e reflexão, ministrado por Paulo Pasta, um dos nomes centrais da pintura contemporânea brasileira.
Idealizada por Naves, a exposição tem como eixo a reflexão sobre a importância da história da arte na formação artística e sobre as distintas formas com que cada artista lida com o legado da arte e os desafios da contemporaneidade.
Participam da mostra os artistas Beatrice Arraes, Beatriz Buendia, Bruno Neves, Daniel Tagliari, Guilherme Gallé, Helen Scheunemann, Jesus José, Joji Ikeda, Lucas Rubly, Luiz83, Miguel Mori e Rafael Kamada. A produção conta ainda com a colaboração de Beatriz Almeida e Gabriel San Martin, pesquisadores que também integram o grupo de estudos.
A programação da mostra inclui conversas com nomes relevantes da crítica e da arte contemporânea brasileira, como Paulo Pasta, Lorenzo Mammì, Taisa Palhares, Antonio Gonçalves Filho, Rodrigo Naves, Alberto Tassinari e Bruno Dunley, além de visitas guiadas com os artistas e oficinas educativas. A programação completa estará disponível no site do Maria Antonia.
O organizador
Rodrigo Naves é crítico, historiador da arte e professor, com doutorado em Estética pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Publicou ensaios e artigos em diversas revistas, jornais e catálogos brasileiros e do exterior, analisando obras de artistas modernos e contemporâneos. Foi editor em diversos veículos de imprensa, bem como publicou diversos livros. Há mais de 20 anos ministra um curso livre de história da arte.
Os artistas
Beatrice Arraes, Beatriz Buendia, Bruno Neves, Daniel Tagliari, Guilherme Gallé, Helen Scheunemann, Jesus José, Joji Ikeda, Lucas Rubly, Luiz83, Miguel Mori e Rafael Kamada
Serviço
Exposições | O silêncio da tradição: pinturas contemporâneas
De 7 de junho a 28 de setembro
Terça a domingo, e feriados, das 10h às 18h
Período
7 de junho de 2025 10:00 - 28 de setembro de 2025 18:00(GMT-03:00)
Local
Centro MariAntonia – Edifício Rui Barbosa
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque – São Paulo, SP
Detalhes
Com curadoria de Daniela Labra, a mostra Primavera Democrática reúne um conjunto de fotografias e vídeos de ações realizadas entre 2017 e 2025 em diversas cidades ao redor do
Detalhes
Com curadoria de Daniela Labra, a mostra Primavera Democrática reúne um conjunto de fotografias e vídeos de ações realizadas entre 2017 e 2025 em diversas cidades ao redor do mundo, reafirmando a relevância e a consistência da obra de Galindo no cenário da arte performática contemporânea.
Como parte da programação, a artista realiza ainda uma performance inédita na Praça da Harmonia, região central da cidade, no dia 3 de junho, terça-feira, a partir das 10h. A ação, que leva o nome da exposição, propõe uma reflexão sobre as persistentes e alarmantes taxas de violência contra a mulher — mesmo em contextos considerados democráticos e institucionalmente estáveis.
Nascida em 1974 na Cidade da Guatemala, onde vive e trabalha, Regina José Galindo desenvolve uma obra profundamente marcada pelas violências estruturais da sociedade latino-americana, com foco em temas como os direitos humanos, o feminicídio, a herança colonial e as desigualdades sociais. Em 2005, recebeu o Leão de Ouro na 51ª Bienal de Veneza por sua performance “¿Quién puede borrar las huellas?”, na qual percorreu descalça as ruas da capital guatemalteca deixando pegadas de sangue, em protesto contra a impunidade e o passado político violento de seu país. Desde então, vem participando de grandes exposições internacionais, como as Bienais de Veneza, São Paulo, Havana, Sharjah e Istambul, além de ter apresentado seus trabalhos em instituições como o MoMA (Nova York), Tate Modern (Londres), Centre Pompidou (Paris) e Guggenheim (Nova York).
Com uma linguagem artística que utiliza o próprio corpo como instrumento político, Galindo constrói ações impactantes que tensionam os limites entre arte, denúncia e ativismo. Sua produção tem sido fundamental para o debate contemporâneo sobre gênero, violência e os mecanismos de poder nas sociedades latino-americanas.
Seus trabalhos fazem parte de importantes coleções institucionais em todo o mundo, incluindo: Tate Londres (Reino Unido), Foundation Centre Pompidou (França), Museu Solomon R. Guggenheim (EUA), La Gaia Collection (EUA), Universidade de Princeton (EUA), Museu Rivoli (Itália), Daros Foundation (EUA), MEIAC (Espanha), Miami Art Museum (EUA), Ubs, Cisneros Fontanals (EUA), Fondazione Teseco (Itália), Fondazione Galleria Civica (Itália), Mmka (Hungria), Consejería de Murcia (Espanha) e Art Foundation Mallorca (Espanha).
“Primavera Democrática” faz parte do calendário especial de ações e projetos expositivos que celebram os 15 anos da Portas Vilaseca em 2025.
Serviço
Exposição | Primavera Democrática
De 07 de junho a 26 de julho
Terça a Sexta, das 11h às 19h, sábado, das 11h às 17h
Período
7 de junho de 2025 11:00 - 26 de julho de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Portas Vilaseca Galeria
Rua Dona Mariana, 137, casa 2, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Detalhes
Com curadoria de Daniela Labra, a mostra Primavera Democrática reúne um conjunto de fotografias e vídeos de ações realizadas entre 2017 e 2025 em diversas cidades ao redor do
Detalhes
Com curadoria de Daniela Labra, a mostra Primavera Democrática reúne um conjunto de fotografias e vídeos de ações realizadas entre 2017 e 2025 em diversas cidades ao redor do mundo, reafirmando a relevância e a consistência da obra de Galindo no cenário da arte performática contemporânea.
Como parte da programação, a artista realiza ainda uma performance inédita na Praça da Harmonia, região central da cidade, no dia 3 de junho, terça-feira, a partir das 10h. A ação, que leva o nome da exposição, propõe uma reflexão sobre as persistentes e alarmantes taxas de violência contra a mulher — mesmo em contextos considerados democráticos e institucionalmente estáveis.
Nascida em 1974 na Cidade da Guatemala, onde vive e trabalha, Regina José Galindo desenvolve uma obra profundamente marcada pelas violências estruturais da sociedade latino-americana, com foco em temas como os direitos humanos, o feminicídio, a herança colonial e as desigualdades sociais. Em 2005, recebeu o Leão de Ouro na 51ª Bienal de Veneza por sua performance “¿Quién puede borrar las huellas?”, na qual percorreu descalça as ruas da capital guatemalteca deixando pegadas de sangue, em protesto contra a impunidade e o passado político violento de seu país. Desde então, vem participando de grandes exposições internacionais, como as Bienais de Veneza, São Paulo, Havana, Sharjah e Istambul, além de ter apresentado seus trabalhos em instituições como o MoMA (Nova York), Tate Modern (Londres), Centre Pompidou (Paris) e Guggenheim (Nova York).
Com uma linguagem artística que utiliza o próprio corpo como instrumento político, Galindo constrói ações impactantes que tensionam os limites entre arte, denúncia e ativismo. Sua produção tem sido fundamental para o debate contemporâneo sobre gênero, violência e os mecanismos de poder nas sociedades latino-americanas.
Seus trabalhos fazem parte de importantes coleções institucionais em todo o mundo, incluindo: Tate Londres (Reino Unido), Foundation Centre Pompidou (França), Museu Solomon R. Guggenheim (EUA), La Gaia Collection (EUA), Universidade de Princeton (EUA), Museu Rivoli (Itália), Daros Foundation (EUA), MEIAC (Espanha), Miami Art Museum (EUA), Ubs, Cisneros Fontanals (EUA), Fondazione Teseco (Itália), Fondazione Galleria Civica (Itália), Mmka (Hungria), Consejería de Murcia (Espanha) e Art Foundation Mallorca (Espanha).
“Primavera Democrática” faz parte do calendário especial de ações e projetos expositivos que celebram os 15 anos da Portas Vilaseca em 2025.
Serviço
Exposição | Terra
De 24 de maio a 26 de julho
Segunda a Sexta, das 10h às 19h, sábado, das 11h às 15h
Período
7 de junho de 2025 11:00 - 26 de julho de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
CLARABOIA
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2906 Jardim América, São Paulo - SP
Detalhes
A artista Tatiana Blass realiza na Albuquerque Contemporânea exposição individual intitulada “Tornado Subterrâneo”. A mostra ocupa o primeiro piso da galeria e é composta de obras inéditas e algumas já
Detalhes
A artista Tatiana Blass realiza na Albuquerque Contemporânea exposição individual intitulada “Tornado Subterrâneo”. A mostra ocupa o primeiro piso da galeria e é composta de obras inéditas e algumas já exibidas em mostras em outras cidades.
Nome de destaque da arte contemporânea brasileira, a artista explora diferentes linguagens para abordar a incomunicabilidade nas relações interpessoais e a subjetividade do indivíduo diante de um mundo em constante transformação. Para isso, recorre a diversos suportes – pintura, escultura, instalação e vídeos – nos quais explora as dimensões de tempo e espaço de maneiras singulares.
Na série “Meia Luz”, de oito pinturas em grande escala, a artista faz referências a filmes e obras teatrais, construindo cenas e sugerindo narrativas em que prevalece a ambiguidade. As formas e cores, pouco definidas, criam ambientes que questionam as relações entre os personagens e seu estar no mundo.
Duas pinturas de 2×3 metros sobre vidro da série “Teatro de Arena –Tornado Subterrâneo” serão expostas na entrada e no fundo da galeria. A artista aborda o tema da mineração, com paisagens desérticas e figuras minúsculas. Crateras pontuadas por alguns personagens na vastidão do espaço devastado retomam o tema do palco, como em busca por um papel a desempenhar em um teatro de arena e as diminutas possibilidades de ação frente à destruição ambiental. Nesses trabalhos, a luz e a transparência dialogam com a paisagem de fundo, criando um jogo espacial com o entorno.
Os temas da mineração e do espaço cênico adquirem outras formas nas esculturas em bronze, realizadas com tinta e cera, em um processo longo e delicado que evidencia os efeitos da temporalidade sobre a matéria, resultado de um processo de derretimento da cera e da tinta pelo calor sobre a peça metálica. Restam nas obras os vestígios das matérias mais efêmeras, que remetem à temporalidade e à decomposição. As imagens do processo são exibidas em vídeo, revelando o desaparecimento das figuras – ou atores – de cera no cenário criado pela artista, fundindo passado e presente.
A instalação “Metade da fala no chão – Bateria preta” é uma nova versão de um importante trabalho da artista que integra a série com instrumentos musicais. Quatro baterias cortadas em formato de um grande círculo, com bumbos, caixas, surdos e pratos, são preenchidas por cera ou espalhadas pelo chão, ocupando 25 metros quadrados. Novamente, o tema da impossibilidade de comunicação é trazido à tona, desta vez, através do silêncio, imposto com certa violência, um corte radical que emudece e explicita incompletude.
Fazendo uso de varados recursos materiais, as obras frequentemente operam o sentido a partir da sinestesia: o silêncio imposto pela cera, a dimensão tátil das cores, o tempo narrativo sugerido em imagens estáticas, o elemento cênico carregado de subjetividade, a impossibilidade de alcançar o outro nas relações interpessoais. São temas bastante atuais apresentados com rigor formal e uma sensibilidade artística que intrigam e convidam o espectador numa imersão a sensações e questionamentos.
Serviço
Exposição | Tornado Subterrâneo
De 24 Junho a 30 Agosto
Segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 10h às 13h30
Período
24 de junho de 2025 10:00 - 30 de agosto de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Albuquerque Contemporânea
Rua Antônio de Albuquerque 885 - Savassi, elo Horizonte - MG
Detalhes
O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura a terceira exposição do projeto Nova Fotografia 2025: “Entre sombras encontro luz”,
Detalhes
O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura a terceira exposição do projeto Nova Fotografia 2025: “Entre sombras encontro luz”, do fotógrafo Rodrigo Pivas. Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até o dia 17 de agosto.
A partir da cidade como tema, Rodrigo Pivas elege as feiras livres na capital paulista como territórios de investigação poética e visual. Iniciada em 2021, a série “Entre sombras encontro luz” apresenta o cotidiano das feiras através das cores, detalhes, formas e gestos moldados e realçados pela luz. Num procedimento que acentua o chiaroscuro barroco, Pivas observa como a luz natural, aliada aos toldos e prédios, realiza recortes que enfatizam o contraste entre claridade e sombra. Na exposição, as 27 imagens parecem se fundir à parede, o que intensifica o destaque da luz sobre os detalhes e objetos que, em geral, passam despercebidos.
“Uma vez por semana retorno ao mesmo local. Um mundo de cores, sabores, texturas e sons com os mais variados sotaques, o mais popular comércio de rua da cidade e do país, a feira. Vista não apenas como um ponto de comércio de produtos alimentícios, mas essencialmente enquanto local de encontro e confraternização. Sua capacidade de proporcionar, ao mesmo tempo, a interação social e o intercâmbio cultural entre indivíduos de uma mesma comunidade ou mesmo de comunidades vizinhas. O recorte da luz, banhando seus elementos e personagens, conduz meu olhar nessa jornada, entendendo as diferentes características e unindo suas semelhanças através da fotografia”, diz Rodrigo Pivas sobre sua série fotográfica.
Sobre o Nova Fotografia
O Nova Fotografia é um projeto anual do MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo – que seleciona, através de convocatória aberta ao público, seis novos fotógrafos para uma exposição individual no museu. A seleção fica a cargo do Núcleo de Programação, com supervisão e coordenação da curadoria geral do MIS. São selecionadas séries fotográficas inéditas, de profissionais que se destacam por sua originalidade técnica e estética. Após o período em exposição, as séries escolhidas passam a integrar o acervo do MIS.
Serviço
Exposição | Nova Fotografia – Entre sombras encontro luz
De 01 de julho a 17 de agosto
Terças a sextas, das 10h às 19h, sábados, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h
Período
1 de julho de 2025 10:00 - 17 de agosto de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Museu da Imagem e do Som - MIS
Av. Europa, 158, Jd. Europa São Paulo - SP
Detalhes
Como escreve Neusa Santos Souza, descobrir-se preto vai além do que é visível. É atravessar a experiência de ter a identidade negada, ser confundido em suas perspectivas e submetido
Detalhes
Como escreve Neusa Santos Souza, descobrir-se preto vai além do que é visível. É atravessar a experiência de ter a identidade negada, ser confundido em suas perspectivas e submetido a exigências alheias. Ainda assim, saber-se preto é um ato de reconstrução: buscar, na própria história, sinais de pertencimento e continuidade. Ser preto não é somente uma condição dada, é um vir a ser. Ser preto é tornar-se preto.
Nesta exposição, revisito a parte materna da minha família, composta em sua maioria por mulheres pretas que, como em muitas famílias brasileiras, são o alicerce da criação, da educação, da preservação e da transmissão de valores, saberes e práticas culturais que sustentam a comunidade afrodescendente.
As gravuras, criadas nas técnicas de xilogravura, linoleogravura, fotogravura, gravura em metal e processos híbridos que articulam tradição e tecnologia, são inspiradas em histórias vividas e contadas durante minha criação na cidade de Sumaré, interior de São Paulo: em cenas do cotidiano, no café da manhã, nas festas em família, nos momentos de trabalho e de descanso.
As obras também abordam o sincretismo religioso, entre
tradições de matriz africana e o catolicismo popular, fortemente presentes no âmbito espiritual da família.
Tornar-se Preto: Meus Laços de Família é um ato de
autoconhecimento e de retorno. Um agradecimento simbólico àquelas que me fizeram e me conduziram até este momento em que me encontro como ser.
Serviço
Exposição | Tornar-se Preto: Meus Laços de Família
De 01 de julho a 03 de outubro
Segunda a sexta, das 12h às 17h
Período
1 de julho de 2025 10:00 - 3 de outubro de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Centro Municipal de Cultura Uberlândia
Praça Prof. Jacy de Assis - s/n - Centro, Uberlândia - MG
Detalhes
Pré-fabricação é um método construtivo em que parte ou todos os componentes de uma construção são produzidos em uma fábrica e, posteriormente, montados no local da obra. A construção
Detalhes
Pré-fabricação é um método construtivo em que parte ou todos os componentes de uma construção são produzidos em uma fábrica e, posteriormente, montados no local da obra. A construção de casa pré-fabricada japonesa, que alia o design à otimização dos materiais, possibilitou maior eficiência ao sistema de construção e contribui para uma maior qualidade de vida aos moradores e à comunidade. A partir de 1º de julho, a Japan House São Paulo traz exemplos dessa inovação nipônica para o andar térreo de sua sede na Avenida Paulista em “Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão”. A exposição apresenta o universo das inovadoras construções pré-fabricadas japonesas atuais a partir de um modelo em tamanho real e maquetes. Também compõe a mostra uma linha do tempo com os principais marcos na história das construções pré-fabricadas no Japão, desde os anos 1950 até os dias atuais, desenvolvida especialmente para a JHSP por Yoshikuni Shirai, professor convidado especial da Faculdade de Meio Ambiente e Estudos da Informação da Universidade de Keio e Editor-chefe da revista Sustainable Japan Magazine by The Japan Times.
No espaço expositivo, a curadoria de Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da JHSP, apresenta parte de uma casa, em escala real, criada pela VUILD. O modelo apresentado faz parte da série NESTING, na qual o próprio cliente consegue projetar sua casa a partir de modelos preestabelecidos que estão disponíveis em um aplicativo e, a partir da madeira processada por meio da fabricação digital, consegue montá-la em colaboração com sua família e amigos. Junto da casa, a exposição apresenta também suas peças, elementos construtivos, separadamente, como se decupasse essa construção, evidenciando sua anatomia.
Além disso, a exposição traz também a maquete da Marebito no ie, outra iniciativa da VUILD que busca revitalizar regiões montanhosas com população em declínio, propondo a construção de alojamentos de propriedade compartilhada, visando a circulação contínua de pessoas nessas áreas, em um modelo de vida que vai além do turismo, mas que não chega a ser uma residência definitiva. O projeto, que utiliza tecnologia de fabricação digital, visa otimizar o uso de recursos florestais locais, utilizando a madeira dessas regiões para a construção da casa e de seus móveis, priorizando o uso da madeira lamelada cruzada (também chamada de madeira CLT), como alternativa ao concreto.
Como exemplo de inovações das casas pré-fabricadas com o foco na segurança, proteção e prevenção de desastres e conforto, a exposição também apresenta um modelo tátil que demonstra um tipo de sistema de isolamento térmico, que reduz a influência da temperatura externa, evita a condensação dentro das paredes e diminui os custos relativos aos sistemas de aquecimento e resfriamento, demonstrando a avançada tecnologia japonesa.
“O objetivo é permitir que o público se familiarize com dimensões de alguns modelos de moradias contemporâneas do Japão, ao mesmo tempo em que pode refletir sobre como essas soluções podem ser adaptadas ao contexto brasileiro. Nossa proposta é fomentar o debate sobre novas formas de construir, incentivando parcerias entre Brasil e Japão para desenvolver modelos cada vez mais sustentáveis de habitação inteligente”, afirma a curadora Natasha.
Já no espaço externo da JHSP, o público é convidado a experimentar alguns elementos inspirados nas habitações tradicionais japonesas, como os cômodos com características flexíveis e personalizáveis, delimitados por portas de correr chamadas de “fusuma” e pisos cobertos por tatames. Crianças e adultos poderão brincar de reconfigurar os espaços com estruturas móveis como uma forma de aprender na prática sobre esses conceitos e vivenciar essa espacialidade. Ainda sobre a exposição, Natasha comenta: “Mais do que uma preocupação com recursos e design, nossa ideia é conectar os visitantes a esse senso de responsabilidade forte que os japoneses têm, de que são parte de um todo e que suas ações devem contribuir para uma melhor condição da sociedade. Esses modelos de habitação mostram a preocupação com o todo, com a comunidade e o meio em que vivem, indo muito além da estética e da mera empatia”.
Ao longo de todo o período expositivo, a JHSP ainda promoverá palestras, seminários e oficinas com temas diversos ligados à sustentabilidade, reuso de materiais e propostas alinhadas com a exposição “Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão”. A mostra também integra o programa JHSP Acessível, oferecendo recursos táteis, audiodescrição e vídeo em libras para proporcionar acessibilidade a todos os visitantes.
Serviço
Exposição | Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão
De 01 de julho a 12 de outubro
Terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h
Período
1 de julho de 2025 10:00 - 12 de outubro de 2025 18:00(GMT-03:00)
Local
Japan House São Paulo
Avenida Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo - SP
Detalhes
Acervo Vivo é um programa que explora o acervo da Almeida & Dale por meio de exposições organizadas por curadores e pesquisadores convidados e internos. As exposições do projeto partem
Detalhes
Acervo Vivo é um programa que explora o acervo da Almeida & Dale por meio de exposições organizadas por curadores e pesquisadores convidados e internos.
As exposições do projeto partem de uma seleção criteriosa e não hierárquica de obras que propõe diálogos entre artistas contemporâneos e de diferentes gerações, transpondo barreiras cronológicas, construindo articulações inusitadas, revelando novas camadas de sentido e promovendo encontros entre tempos e narrativas distintas.
Ao ativar o acervo como um campo de investigação contínua, Acervo Vivo reafirma o compromisso da galeria com a valorização da arte brasileira e global em suas múltiplas temporalidades, contribuindo para sua preservação, difusão e constante reinterpretação.
Acervo Vivo: Vivenciando a transcendência: uma coreografia de pinturas inaugura na quinta, 3 de julho, na Almeida & Dale Caconde 152. Partindo da pintura de Rubens Gerchman, a exposição propõe um percurso vertiginoso por entre pinturas de diferentes períodos e tendências, passando pelo abstracionismo, construtivismo, pop e a pintura contemporânea, constituindo um bailado que convida à uma experiência alucinatória, arraigada nos sentidos e de suspensão dos limites da historiografia tradicional da arte.
Serviço
Exposição | Acervo Vivo – Vivenciando a transcendência: uma coreografia de pinturas
De 03 de julho a 31 de julho
Segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 11h às 16h
Período
3 de julho de 2025 10:00 - 31 de julho de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Almeida & Dale Caconde
R. Caconde, 152, São Paulo - SP
Detalhes
Luciana Brito Galeria e Galatea Salvador apresentam Regina Silveira: Tramadas, a primeira exposição individual da artista na capital soteropolitana. A inauguração da mostra coincide com a semana da Independência
Detalhes
Luciana Brito Galeria e Galatea Salvador apresentam Regina Silveira: Tramadas, a primeira exposição individual da artista na capital soteropolitana. A inauguração da mostra coincide com a semana da Independência da Bahia, celebrada no dia 2 de julho.
Fruto de uma parceria inédita, a exposição tem curadoria de Adriano Casanova e Tomás Toledo, conta com texto crítico de Ana Maria Maia e reúne obras emblemáticas de Regina Silveira, muitas delas inéditas no Brasil, que sintetizam sua pesquisa em torno do bordado ao longo dos anos. Elemento recorrente na obra de Regina Silveira desde 1999, o uso do bordado em ponto de cruz, entendido como codificação da imagem, remete a uma herança trans-histórica e intercultural, relacionada à própria história remota da alfabetização das mulheres, em sua trajetória de resistência.
Uma grande instalação site-specific é destaque da mostra Tramadas, que acontece no espaço da Galatea em Salvador, localizado no térreo do Edifício Bráulio Xavier, na Rua Chile, a primeira rua do Brasil. Malfeitos, da série dos “bordados malfeitos”, ganha uma reativação inédita adaptada à fachada de vidro da galeria, convidando o público a conhecer mais. A obra, formada por tramas de linhas vermelhas acompanhadas por uma agulha, sem respeitar qualquer ordem de construção, realizada como aplicação de vinil adesivo, permite “janelas” de observação para o espaço interno. Essa obra rememora mais de quinze anos de produção de Regina Silveira sobre a temática do bordado aplicado a espaços arquitetônicos, período no qual algumas obras, mesmo que efêmeras, permanecem no imaginário do público, como Tramazul, que ocupou por alguns meses, desde o final de 2010, a fachada do MASP com bordados de nuvens no céu azul, e a Trapped Pink, quando habitou um ambiente amplo na Trienal Internacional de Artes Gráficas, em Varsóvia, na Polônia, em 2017.
Antes disso, desde 1999, Regina Silveira já investigava a construção de imagens gráficas a partir da codificação das diferentes tramas de bordados. Ao longo dos anos, a artista se apropriou de imagens em revistas de bordados que encontrou ao redor do mundo, como referências para suas criações. Outros trabalhos apresentados na exposição ilustram bem essa trajetória até o presente. Ao fundo da galeria, em paralelo a instalação Malfeitos, a mostra apresenta Dreaming of Blue II (2016), painel em cerâmica com sobrevidrado, em diálogo com a série histórica de gravuras Risco (1999), encomendada na época pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para distribuição a museus brasileiros, apresenta tramas codificadas como uma espécie de véu que deixa transparecer objetos duros, como ferramentas, comparáveis às impressões sobre alumínio, feitas anos depois (serie Tramada, 2015), que parecem aprisionar objetos similares. A exposição também reúne gravuras da série Armarinhos (2002-2003), representando elementos relacionados à prática do bordado, como agulha, botão e alfinete, além das serigrafias Tramada (Pink) (2014) e Blue Skies (2015).
A mostra apresenta, ainda, as maquetes Tramazul (2010) e Casulo (2025), que remetem à ocasião em que Silveira aplicou tramas bordadas, impressas e recortadas em vinil adesivo sobre vários ônibus de linhas municipais que circularam normalmente durante a 16a Bienal Internacional de Curitiba, em 2016.
Serviço
Exposição | Tramadas
De 04 de julho a 11 de outubro 2025
Terça a quinta, das 10 às 19h, sexta, das 10h às 18h e sábado das 11h às 15h
Período
4 de julho de 2025 10:00 - 11 de outubro de 2025 18:00(GMT-03:00)
Local
Galeria Galatea Salvador
R. Chile, 22 - Centro, Salvador - BA
Detalhes
O MAC USP inaugura no sábado, 5 de julho, a exposição Ana Amorim | Mapas Mentais, reunindo cerca de 70 trabalhos da artista em quase quarenta anos de carreira.
Detalhes
O MAC USP inaugura no sábado, 5 de julho, a exposição Ana Amorim | Mapas Mentais, reunindo cerca de 70 trabalhos da artista em quase quarenta anos de carreira. A mostra é a maior já realizada pela artista e apresenta, pela primeira vez, diversas de suas “Grandes telas”, obras compostas de registros diários ao longo de um ano inteiro, assim como obras inéditas e históricas ao longo de sua carreira. Durante os anos 1980, Ana Amorim estudou matemática e artes, em São Paulo, e se mudou para os Estados Unidos para fazer seu mestrado em artes. Após um período dedicado principalmente à gravura, passou a se interessar por uma prática de tipo conceitual, que define sua produção a partir desse momento. “O aspecto da obra torna-se secundário em relação às preocupações éticas e ao rigor, ao empenho e à coerência que definem sua prática”, avalia Jacopo Crivelli Visconti, curador da mostra.
A prática artística de Ana Amorim alinha-se a sua postura ética e política fazendo com que, ao longo dessas décadas, ela tenha optado pelos caminhos que lhe pareciam corretos, mas que contribuíram para uma pouca visibilidade de sua produção, mesmo entre os profissionais da área. Até poucos anos atrás, por acreditar que uma obra de arte não pertence a ninguém e que não pode ser apropriada, ela se recusava a expor em lugares comerciais, a vender suas obras e a participar de exposições patrocinadas por empresas privadas.
A produção de Ana Amorim foi acolhida pelo MAC USP em diversos momentos. O Museu abrigou a primeira exposição individual da artista no Brasil e foi o primeiro a incorporar obras suas ao acervo. Em 2014, a artista fez a doação de duas obras exibidas em 1990 no próprio Museu e em 2021 apresentou a performance Contar Segundos no espaço térreo do Museu durante uma semana. Segundo Ana Magalhães, curadora do MAC USP, “Ana Amorim tem uma produção atualíssima para um debate artístico dentro de um museu universitário, espaço de reflexão crítica.”
Nos últimos 40 anos, Ana Amorim registra sua vida através de mapas mentais e contando segundos. “Na concepção e no universo da artista, ela e a sua produção são indissociáveis. Sua vida é arte. Sua arte não é uma representação da vida, é a própria vida. Se está viva, Ana Amorim está produzindo algo. Esse algo ela chama de arte, mas é também, ou principalmente, um rastro da sua passagem pelo mundo, e da passagem do tempo sobre ela. O tempo que passa sobre a artista é o mesmo tempo que passa sobre cada um de nós. Sua obra é intimamente pessoal: retrata em mapas singelos os movimentos dela ao longo de um dia, de todos os dias da sua vida”, diz o curador, e completa: “são os mesmos movimentos que nós fazemos, os mesmos segundos que nós vivemos. Não há diferença, não existem hierarquias, o tempo da artista não é nem mais nem menos importante do que o tempo de cada um de nós.”
Serviço
Exposição | Mapas Mentais
De 5 julho a 5 outubro
Terça a domingo das 10 às 21 horas
Período
5 de julho de 2025 10:00 - 5 de outubro de 2025 21:00(GMT-03:00)
Local
MAC USP
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 – Ibirapuera - São Paulo - SP
Detalhes
A Almeida & Dale recebe a exposição coletiva Ponto de Mutação, que reúne trabalhos de Anna Paes, Guilherme Gallé, Maria Luiza Toral, Marina Rodrigues, Rafael Kamada e Thales Pomb,
Detalhes
A Almeida & Dale recebe a exposição coletiva Ponto de Mutação, que reúne trabalhos de Anna Paes, Guilherme Gallé, Maria Luiza Toral, Marina Rodrigues, Rafael Kamada e Thales Pomb, sob curadoria de Antonio Gonçalves Filho. A mostra é um recorte da produção desses artistas que atravessam linguagens, materiais e campos de pesquisa para investigar as tensões do presente e para refletir sobre possíveis caminhos de transformação. Com abordagens que vão da escultura à pintura, passando por experimentações com materiais não convencionais e processos interdisciplinares, são investigados temas como memória, colapso ambiental, violência estrutural e tecnologia.
A exposição tem o título inspirado no livro “O Ponto de Mutação”, do físico e ambientalista austríaco Fritjof Capra, publicado em 1982, que à época foi capaz de convergir o pensamento científico, a espiritualidade e a filosofia, anunciando uma era de novas possibilidades para o planeta em crise. Agora, Ponto de Mutação, ao aproximar linguagens e investigações distintas que respondem à crise civilizatória atual, faz uma homenagem ao visionário que, há 40 anos, já discutia a intersecção de disciplinas para manter viva a cultura humanista em um cenário de distópico transumanismo.
“Os artistas dessa mostra rompem com os velhos paradigmas para anunciar uma nova arte, resistente à padronização e sintonizada com o modelo holístico sugerido por Capra. Vale lembrar, em harmonia com as leis naturais e com um modelo de transição cultural ampla e harmônica”, enfatiza o curador.
Ao refletir sobre impasses contemporâneos e possíveis caminhos de regeneração, a exposição apresenta obras que tensionam memória, materialidade e tempo, como as de Anna Paes, Maria Luiza Toral e Marina Rodrigues. Enquanto Anna revisita métodos arqueológicos para replicar a escrita arcaica em objetos feitos com polpa de papel artesanal, no limite entre o abstrato e o simbólico, Maria Luiza ressignifica o lixo tecnológico das cidades ao transformá-lo em esculturas de vidro, acrílico e filmes polarizadores. Já Marina opera no cruzamento entre geometria, oxidação e ruína, elaborando formas que dialogam com os campos da física e da arquitetura.
Na pintura, Guilherme Gallé, Rafael Kamada e Thales Pomb assumem o risco de pensar a linguagem pictórica a partir de uma ciência expandida. Gallé constrói paisagens em suspensão, divididas entre figuração e abstração. Kamada, influenciado por referências orientais, dissolve o tempo na superfície da tela, criando imagens que evocam a física quântica e a ideia de simultaneidade. Pomb, por sua vez, faz da literatura um motor conceitual: em Os Flocos de Neve (2025), obra inspirada pelo romance “Atos Humanos”, da Nobel sul-coreana Han Kang, o artista cria uma pintura que encena o colapso da empatia e a violência estrutural do presente.
Serviço
Exposição coletiva | Ponto de Mutação
De 05 de julho a 09 de agosto
Segunda a sexta-feira: 10h às 19h, sábado: 11h às 16h
Período
7 de julho de 2025 10:00 - 9 de agosto de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Almeida & Dale
Rua Fradique Coutinho 1360 | 1430, São Paulo - SP
Detalhes
A máscara—e o que se vê através dela—é o ponto de partida para a nova exposição de Jorge Macchi, na Luisa Strina. Para Las fases lunáticas, Jorge Macchi criou um
Detalhes
A máscara—e o que se vê através dela—é o ponto de partida para a nova exposição de Jorge Macchi, na Luisa Strina.
Para Las fases lunáticas, Jorge Macchi criou um conjunto de obras que relaciona objetos encontrados com a materialidade da pintura e a imaterialidade da luz. O título da exposição deriva de uma pintura que representa a sobreposição de sombras projetadas por diferentes focos de luz ao atravessar os furos de um papelão. A expressão fases lunáticas é uma alteração sutil de fases lunares, aludindo às diferentes situações de luz e sombra nos seis círculos que compõem a obra.
Em geral, a exposição está estruturada em dípticos que colocam em diálogo peças de papelão encontradas na rua com pinturas sobre papel. Os papelões exibem uma constelação de orifícios que correspondem à função que cumpriam antes de serem descartados. As pinturas, por sua vez, repetem em espelho a estrutura desses orifícios. Cada uma das formas resultantes, pintadas com óleo sobre papel branco, representa fragmentos de uma paisagem atmosférica com sutis gradientes de cor. A auréola criada pelo óleo ao redor das formas, ao ser absorvido pelo papel, aprofunda a fragmentação dessa paisagem, supostamente percebida através dos orifícios. O papelão funciona ao mesmo tempo como máscara e como dispositivo para olhar.
Serviço
Exposição | Las fases lunáticas
De 10 de julho a 09 de agosto
Segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 10h às 17h
Período
10 de julho de 2025 10:00 - 9 de agosto de 2025 19:00(GMT-03:00)
Local
Galeria Luisa Strina
ua Padre João Manuel 755, Cerqueira César, São Paulo
Detalhes
Uma exposição coletiva multidisciplinar que contempla artes plásticas visuais, com artistas indígenas e periféricos. Serão apresentadas ao público de maneira gratuita, pinturas, fotografias, vídeos e um painel artístico, além
Detalhes
Uma exposição coletiva multidisciplinar que contempla artes plásticas visuais, com artistas indígenas e periféricos. Serão apresentadas ao público de maneira gratuita, pinturas, fotografias, vídeos e um painel artístico, além de uma programação com bate papo, visita guiada e uma oficina de arte.
O projeto visa apresentar uma parte da riqueza cultural e ancestral dos povos originários e conscientizar e mostrar a importância da defesa e preservação das florestas e dos povos indígenas.
A proposta é trazer um pouco do Alto Xingu e do universo do povo indígena Kuikuru para dentro da galeria. As paredes da galeria serão pintadas com pigmentos extraídos de terra coletada no Alto Xingu durante a imersão cultural realizada em 2023. Grafismos da etnia Kuikuru será reproduzidos e artesanatos e utensílios locais serão expostos. Cânticos locais e sonidos da fauna local farão parte da sonorização do ambiente.
Serviço
Exposição | Rio Acima – Uma Jornada pelo Xingu
De 12 de julho a 12 de outubro
Terça a sábado, de 10h às 17h
Período
12 de julho de 2025 10:00 - 12 de outubro de 2025 17:00(GMT-03:00)
Local
Sesc Niterói
R. Padre Anchieta, 56 - São DomingosNiterói - RJ
Detalhes
O Museu Oscar Niemeyer (MON) terá uma intensa programação no mês de julho. A partir do dia 13, haverá diversas oficinas e ações para o público infantojuvenil e famílias.
Detalhes
O Museu Oscar Niemeyer (MON) terá uma intensa programação no mês de julho. A partir do dia 13, haverá diversas oficinas e ações para o público infantojuvenil e famílias. As atividades acontecem até o dia 25/7.
O Férias no MON é uma oportunidade de novas experiências individuais e coletivas com o espaço do Museu e com a arte. As ações irão ocupar o Espaço de Oficinas, as salas expositivas e a área externa, oportunizando novas experiências sensoriais.
O objetivo é explorar algumas das diversas técnicas, linguagens, materiais e possibilidades que a arte proporciona.
Durante as atividades, os participantes poderão experimentar pintura, colagem, desenho, fotografia, modelagem e conhecer melhor a exposição em cartaz no Olho do MON. “Re-Selvagem”, da artista francesa Eva Jospin, reúne uma floresta reinventada, que convida o público a mergulhar nessa experiência única, pela primeira vez no Brasil.
O público-alvo das atividades são bebês, crianças e adolescentes. Com a intenção de criar um ambiente de interação entre as crianças e suas famílias, os participantes com menos de 14 anos deverão obrigatoriamente estar acompanhados de um adulto responsável durante toda a atividade.
Veja abaixo a programação e todas as informações detalhadas.
SOBRE O MON
O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.
Oficinas e ações:
ATELIÊS DE CRIAÇÃO
Pintura com tinta guache
Atividade aberta das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)
13 julho
Local: Vão livre do MON
Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos
Número de vagas: a atividade atende 60 pessoas simultaneamente.
Participação: gratuita
Desenho
Atividade aberta das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)
16 julho
Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON
Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos
Número de vagas: a atividade atende 60 pessoas simultaneamente
Participação: gratuita
Colagem
Atividade aberta das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)
23 julho
Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON
Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos
Número de vagas: a atividade atende 60 pessoas simultaneamente
Participação: gratuita
Ateliê para bebes: Voando para dentro do amarelo
10h às 12h (entrada permitida até 11h)
20 julho
Local: Salão de Eventos
Público-alvo: bebês de 12 a 36 meses com a presença de um adulto
Número de vagas: 50 bebês
Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-
Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.
MEDIAÇÃO
“Re-Selvagem”, de Eva Jospin
15h
17, 24 e 25 julho
Local: Olho
Público-alvo: pessoas com mais de 10 anos
Número de vagas: 20
Link para inscrição: https://bit.ly/
Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.
Visita mediada em Libras
15h
22 julho
Local: Chão de Vidro
Público-alvo: pessoas surdas com mais de 14 anos
Número de vagas: 20
Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-
Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de uma pessoa com 14 anos ou mais.
OFICINAS
Investigando sombras
Sessão 1: 10h30 | Sessão 2: 14h30 (acessível em libras)
17 julho
Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON
Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos
Número de vagas: 20
Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-
Obs.: O valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.
Arte em Movimento – O ver no teatro e o corpo no cinema
Sessão 1: 10h | Sessão 2: 14h (acessível em Libras)
18 julho
Local: Salão de Eventos
Público-alvo: pessoas com mais de 14 anos
Número de vagas: 20
Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Arte-
Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de uma pessoa com 14 anos ou mais.
Personagens em argila
Sessão 1: 10h30 | Sessão 2: 14h30 (acessível em Libras)
24 julho
Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON
Público-alvo: pessoas de 7 a 13 anos
Número de vagas: 20
Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-
Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.
Fotografando reflexos
Sessão 1: 10h30 | Sessão 2: 14h30 (acessível em Libras)
25 julho
Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON
Público-alvo: pessoas de 7 a 13 anos
Número de vagas: 20
Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-
Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.
ATENÇÃO: o valor de cada atividade (R$ 60), é válido para uma criança acompanhada de um adulto. Com exceção para a visita mediada em Libras, que custa R$ 30, e a oficina Arte em Movimento – O ver no teatro e o corpo no cinema, que é válida para uma pessoa com 14 anos ou mais.
Ateliês de Criação são gratuitos.
Em todas as atividades o ingresso de acesso ao MON já está incluso no valor.
Serviço
Exposição | Férias no MON
De 13 a 25 de julho
Terça a sexta, das 9h30 às 21h30, sábado e domingo, das 10h às 18h
Período
13 de julho de 2025 - 25 de julho de 2025 (O dia todo)(GMT-03:00)
Local
Museu Oscar Niemeyer (MON)
R. Mal. Hermes, 999 - Centro Cívico, Curitiba - PR