Nesta quarta-feira, 25, em Brasília, durante 10 horas, em uma jornada imersiva com a participação de uma centena de pessoas – especialistas e representantes públicos de quatro países (Alemanha, Colômbia, França e Brasil), secretários de Cultura e Educação de quatro estados do País (Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Bahia), três secretários de Estado do governo brasileiro e dezenas de especialistas, educadores e pensadores –, debateram-se as possibilidades, o histórico e as potencialidades de um tema de importância crucial para o futuro: a implementação da arte e da cultura na formação de crianças e adolescentes. Foi durante o seminário internacional Experiências Internacionais que conectam arte, cultura e educação. O simpósio foi realizado para apresentar e debater o estudo inédito Relatório de Boas Práticas: Recomendações para a Construção de Políticas Públicas de Arte, Cultura e Educação, realizado pela Fundação Itaú com apoio da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ministérios da Educação e da Cultura e Inep.
A meta do encontro era muito clara: apresentar evidências concretas das inúmeras vantagens de se incluir, na educação de crianças e adolescentes, o contato com currículos artísticos integrados. De posse dessas informações, o poder público terá, futuramente, condições de trabalhar de forma concreta no impulsionamento de políticas públicas “mais equitativas e inovadoras” de incremento social, conforme o estudo. Os resultados mostraram o que é até evidente: a integração das artes aos currículos das escolas melhoram o desenvolvimento socioemocional dos jovens, a participação, os laços sociais, aumenta a pontuação em provas de escrita e ajuda estudantes com baixo desempenho, porta a melhores resultados acadêmicos futuros. Há resultados específicos entre as estatísticas apresentadas, como por exemplo; a educação musical na escola melhora as habilidades cognitivas, como consciência fonológica, matemática e velocidade de processamento; e a educação teatral ajuda a desenvolver habilidades verbais e a interpretação de texto. Um exame dos resultados do PISA (Programme for International Student Assessment, ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado a cada 3 anos pela OCDE) identificou uma relação positiva entre a participação dos jovens de 15 anos em atividades artísticas e culturais e o desempenho acadêmico em matemática e leitura em alguns países (como Canadá, Estônia, Noruega e Reino Unido).
Não são conclusões das quais a sociedade já não tenha consciência: segundo o estudo, no Brasil, 8 em cada 10 pais ou responsáveis de crianças e adolescentes pedem para o poder público aumentar a oferta de atividades culturais nas escolas; 80% dos estudantes afirmam que gostariam de ter mais atividades culturais nas escolas; e 38% citam a escola como o local em que têm efetivo contato com atividades culturais. Mas, para os realizadores do simpósio, o Brasil (e boa parte da América Latina) ainda enfrenta um ambiente árido para que se demonstrem concretamente esses benefícios e suas vantagens, daí a importância desse primeiro estudo e do debate que acarretou. “Sabemos que é importante, mas constrangemos sua aplicação”, disse Esmeralda Macana, coordenadora do Observatório Fundação Itaú. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Brasil, documento normativo que orienta o planejamento pedagógico nacional, tem cinco menções às artes em sua conformação.
Diana Toledo, executiva do Education Policy Outlook da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), responsável por apresentar esse primeiro relatório (que é resultado de um acordo entre Fundação Itaú e o governo brasileiro em 2024), elogiou a postura do Brasil em trabalhar com constância e continuidade na coleta de dados e explicou a relevância da parceria da OCDE com os dois ministérios e com a Fundação Itaú. “(O Brasil) é um contribuinte muito importante, coletando dados e informações de qualidade”, assinalou.
Há diversos estudos recentes realizados no Brasil que atestam como os setores artístico e cultural têm contribuído de forma considerável para o crescimento econômico e promovido habilidades e capacidades de inovação que terminam beneficiando outros setores, além de criar postos de trabalho qualificados. Entre 2012 e 2020, a taxa média de crescimento anual da economia da cultura e do setor criativo foi de 2,2% ao ano, em comparação a -0,4% da economia nacional em geral, segundo dados levantados em 2022 pelo Observatório Fundação Itaú.
Os painéis do dia foram capitaneados tanto por especialistas e ativistas independentes quanto por dirigentes do Estado brasileiro, e foi interessante observar a sinergia entre essas forças em relação ao assunto debatido. Fabiano Piúba, que é Secretário Nacional do Livro e da Leitura do Ministério da Cultura (MinC) leu um pequeno manifesto escrito, com grande receptividade, e relatou uma experiência quando secretário de Cultura do Ceará, entre 2016 e 2022, quando promoveu um programa de oferta de projeção de filmes para escolares no Cine São Luiz. Ali, ficou sabendo que para quase 100% dos estudantes (e também dos professores) participantes, aquela era a primeira vez que entravam numa sala de cinema, exclusão cultural a que chamou de “perversidade”.
Kátia Schweickardt, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, após emocionar os presentes ao falar de sua experiência em comunidades ribeirinhas da Amazônia, de onde é oriunda, demonstrou grande engajamento do governo federal na problemática apresentada. Após definir-se como mulher preta, destacou que, à revelia disso, não é pautada apenas pela pauta identitária e que, para seguir a orientação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de ampliar a jornada escolar, vê necessidade também de expandir os ambientes, e a cultura se adequa com precisão a essa demanda. “O Bumbódromo é um grande espaço educador, assim como as escolas de samba e todos os mestres da cultura”, afirmou. Kátia destacou que, desde que Lula iniciou o programa Escola em Tempo Integral, em 2023, o percentual de municípios que tinham políticas de educação integral pulou de 17% para 66%, com quase 2 milhões de matrículas.
Marcela Rocio Herrera Oleas, especialista científica do DLR Projektträger da Alemanha, falou sobre a instituição Kultur Macht Stark, e afirmou que a experiência alemã, que atendeu 1,5 milhão de participantes desde 2013, com mais de 50 mil atividades culturais e 50 milhões de euros de investimento, se baseia numa filosofia muito básica: as ideias têm que vir de baixo, e que antes de se iniciar um movimento social, deve-se iniciar um movimento de base, permitindo que apareçam várias soluções para lugares diversos, e não apenas uma para todos. Cada núcleo do Kultur Macht Stark deve ter pelo menos três parcerias locais para se realizar. O perfil dos professores, em geral oriundos da classe média, também não dá conta da especificidade de cada comunidade, por isso é importante envolver atores locais, de clubes a igrejas. “Não é só comer o pastel, mas inventar a receita”, afirmou.
Solmar Diáz, do Ministério da Cultura da Colômbia, falou sobre a experiência de educação integral em seu País e disse que, para o governo, trata-se de uma aposta estratégica de ressignificação do tempo escolar – nesse processo, se reconhece a integralidade do ser humano, algo que pode permitir o pleno desenvolvimento das dimensões da personalidade, com um reconhecimento cultural, socioafetivo e cognitivo das potencialidades de cada indivíduo. Na Colômbia, explicou Solmar, a ação educativa nas áreas recém-saídas de conflitos impõe também o reconhecimento de uma “pedagogia crítica do corpo”, para fazer frente aos traumas de guerras.
Instado a comentar como os indígenas brasileiros encaram tais questões, o escritor e ativista Daniel Munduruku brincou: “Tá todo mundo querendo adotar o modo indígena de educar”, divertiu-se. “Quem sabe agora a gente passe a ouvir as populações originárias”. Munduruku explicou que a experiência indígena, embora diversa no País, pressupõe uma educação para o todo, sistêmica, e sua tradição não vê as coisas de forma separada há muito tempo – arte e cultura não estão dissociadas de todas as outras atividades cotidianas. Ele contou o caso que lhe foi relatado pelo indigenista Orlando Villas-Boas, de uma mãe que fazia cerâmicas muito refinadas e o filho pequeno, assim que ela finalizava um vaso, ia lá e o quebrava. E a mãe fazia outro igualmente bem-acabado. Villas-Boas foi até ela, inconformado, para perguntar porque não fazia um vaso qualquer, feinho, já que seria mesmo quebrado. Ela respondeu-lhe que era assim mesmo que fazia. Ou seja: não se trata de dar destinações diferentes às coisas, elas são como devem ser.
O presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron, que abriu o simpósio, destacou que o fato de a escola ser o equipamento público mais presente no território brasileiro projeta a educação como “o catalisador das soluções, não só para o processo de ensino-aprendizagem, mas também das soluções (para as questões) que os territórios oferecem, a partir deste catalisador chamado escola pública”, capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma nova subjetividade.
O secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha (que também preside o Fórum Nacional do Secretários de Cultura), afirmou que esse novo e desafiador momento da educação no País abre perspectivas também novas, cujas demandas podem ser incorporadas às políticas do Sistema Nacional de Cultura (SNC), e que exigem uma convergência de agendas à qual ficará atento. “Saio daqui muito inspirado para várias ações lá no nosso território”, afirmou, adiantando que a inauguração do Cais das Artes, centro arquitetônico ousado de Paulo Mendes da Rocha prestes a ser inaugurado, deve abrigar projetos da rede estadual de formação do Espírito Santo.
Bel Mayer, educadora e coordenadora do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Apoio Comunitário (IBEAC), expôs em um dos painéis a experiência de conquistar bibliotecas comunitárias no bairro de Parelheiros, na capital paulista, algo que parecia impossível há alguns anos (não havia nenhuma) e hoje o bairro já conta com um conjunto de seis instituições. Ela disse que é preciso adotar novas políticas de estímulo para as produções culturais, alertando para uma prevalência de editais de apoio pelo País todo. Recordou de amigos que chegam se lamentando que deixaram de se classificar para um edital por 0,2 ponto e que isso não lhe parece justo. “O que significa 0,2 ponto para engavetar um projeto de cultura?”. Bel lembrou uma consideração que ouviu do antropólogo mineiro Tião Rocha: “É preciso deixar de é-ditais para passar a ser é-de-todos”.
O jornalista Jotabê Medeiros viajou a Brasília a convite da Fundação Itaú
 Vania Leal foi curadora da primeira Bienal das Amazônias e, atualmente, é diretora de projetos especiais do Centro Cultural Bienal das Amazônias, em Belém (PA). Nesta edição, Vânia relatou a experiência da itinerância da Bienal, que passou por diversas cidades da região amazônica por cerca de um ano.
Vania Leal foi curadora da primeira Bienal das Amazônias e, atualmente, é diretora de projetos especiais do Centro Cultural Bienal das Amazônias, em Belém (PA). Nesta edição, Vânia relatou a experiência da itinerância da Bienal, que passou por diversas cidades da região amazônica por cerca de um ano. Caroline Vieira é mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, Doutora em Artes Visuais, linha de pesquisa em História e Teoria da Arte, pela Escola de Belas Artes da UFBA. Trabalha na área do audiovisual como editora e atua como pesquisadora da arte e da comunicação. Para esta edição, Caroline aborda as escavações que apontam vestígios do primeiro cemitério público da América Latina.
Caroline Vieira é mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, Doutora em Artes Visuais, linha de pesquisa em História e Teoria da Arte, pela Escola de Belas Artes da UFBA. Trabalha na área do audiovisual como editora e atua como pesquisadora da arte e da comunicação. Para esta edição, Caroline aborda as escavações que apontam vestígios do primeiro cemitério público da América Latina. Leonor Amarante jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Nesta edição escreve sobre os 120 anos da Pinacoteca de São Paulo.
Leonor Amarante jornalista, curadora e editora. Trabalhou no Jornal O Estado de S.Paulo, na revista Veja, na TV Cultura e no Memorial da América Latina. Nesta edição escreve sobre os 120 anos da Pinacoteca de São Paulo. Fabio Cypriano Jornalista, é crítico de arte, professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP. Nesta edição, Cypriano visita o Instituto Inhotim, que recebe 22 obras de artistas indígenas no Pavilhão Claudia Andujar, e o CCBB-SP, que revê a chamada Geração 80 na mostra Fullgás – artes visuais
Fabio Cypriano Jornalista, é crítico de arte, professor e diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP. Nesta edição, Cypriano visita o Instituto Inhotim, que recebe 22 obras de artistas indígenas no Pavilhão Claudia Andujar, e o CCBB-SP, que revê a chamada Geração 80 na mostra Fullgás – artes visuais Coil Lopes é desenvolvedor multimídia, designer, videomaker e programador. Atuando na ARTE!Brasileiros desde sua fundação, integra criação e tecnologia, produzindo fotografias, vídeos, newsletters e gerenciamento do portal.
Coil Lopes é desenvolvedor multimídia, designer, videomaker e programador. Atuando na ARTE!Brasileiros desde sua fundação, integra criação e tecnologia, produzindo fotografias, vídeos, newsletters e gerenciamento do portal.















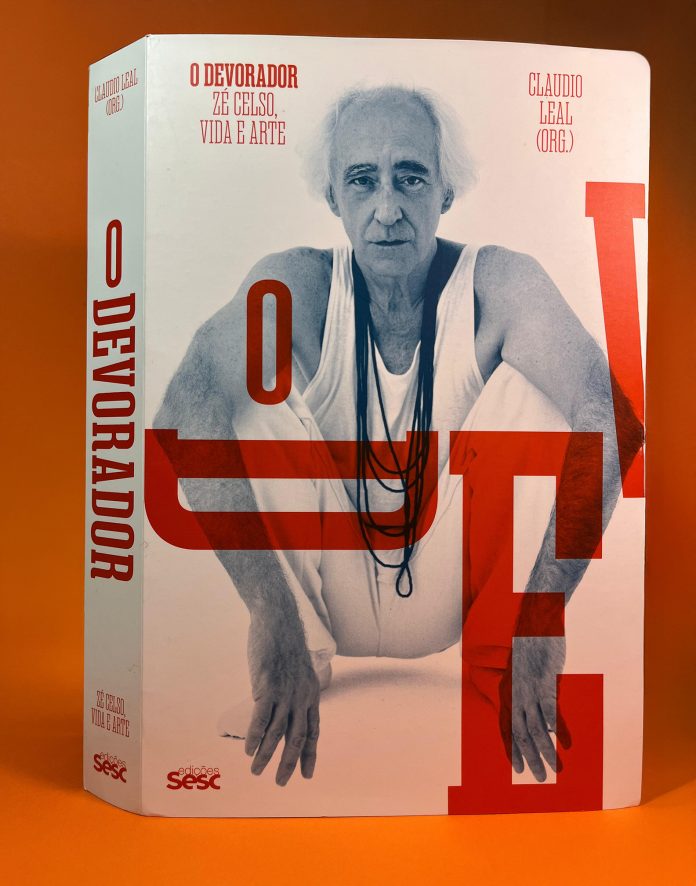
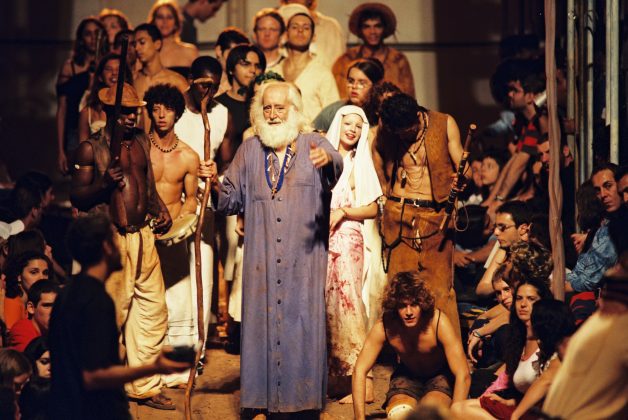
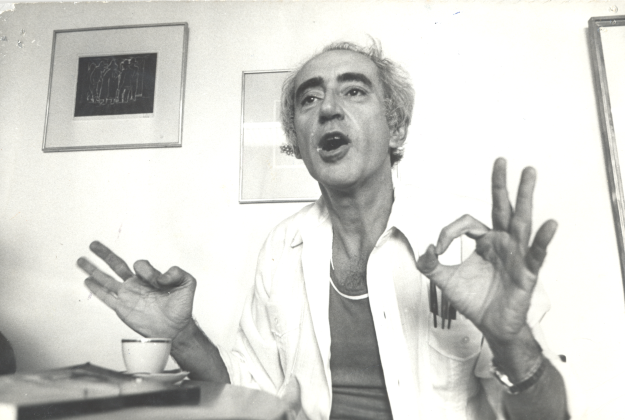






















 Os primeiros vestígios foram identificados a partir do quinto dia, numa área equivalente a aproximadamente três vagas, pois o cemitério também foi “enterrado”, como uma forma de ocultar esse episódio da história do Brasil na Bahia e dos escravizados. Com os achados da pesquisa, o cemitério pode ser identificado como um dos maiores cemitérios públicos da América Latina. A estimativa é que lá tenham sido enterrados mais de 100 mil corpos ao longo do período em que o espaço funcionou com essa finalidade. Segundo fontes históricas, o cemitério foi primeiro administrado pela Câmara Municipal e, logo depois, foi assumida a responsabilidade pela Santa Casa da Misericórdia.
Os primeiros vestígios foram identificados a partir do quinto dia, numa área equivalente a aproximadamente três vagas, pois o cemitério também foi “enterrado”, como uma forma de ocultar esse episódio da história do Brasil na Bahia e dos escravizados. Com os achados da pesquisa, o cemitério pode ser identificado como um dos maiores cemitérios públicos da América Latina. A estimativa é que lá tenham sido enterrados mais de 100 mil corpos ao longo do período em que o espaço funcionou com essa finalidade. Segundo fontes históricas, o cemitério foi primeiro administrado pela Câmara Municipal e, logo depois, foi assumida a responsabilidade pela Santa Casa da Misericórdia. 



 Luiza Lorenzetti é jornalista, especialista em Mídia, Informação e Cultura pelo CELACC-USP. Foi coordenadora de comunicação do FETESP – Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo. Atualmente, é Gerente Web da arte!brasileiros
Luiza Lorenzetti é jornalista, especialista em Mídia, Informação e Cultura pelo CELACC-USP. Foi coordenadora de comunicação do FETESP – Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo. Atualmente, é Gerente Web da arte!brasileiros Eduardo Simões Jornalista, trabalhou em O Globo, na Folha de S.Paulo, e atualmente colabora com a edição da revista arte!brasileiros digital e impressa.
Eduardo Simões Jornalista, trabalhou em O Globo, na Folha de S.Paulo, e atualmente colabora com a edição da revista arte!brasileiros digital e impressa. Clara Sampaio Artista, curadora e pesquisadora de arte. Integra o coletivo ATMO como curadora e gestora de projetos, além de participar de exposições, residências, cursos e publicações. Escreve sobre a instalação Wi-Fi Grátis, montada na biblioteca do Museu de Arte do
Clara Sampaio Artista, curadora e pesquisadora de arte. Integra o coletivo ATMO como curadora e gestora de projetos, além de participar de exposições, residências, cursos e publicações. Escreve sobre a instalação Wi-Fi Grátis, montada na biblioteca do Museu de Arte do Nicolas Soares é artista, pesquisador, curador e gestor cultural formado pela Escola de Belas Artes da UFBA, em Salvador, e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES, em Vitória. Diretor do Museu de Arte do Espírito Santo, assina um artigo sobre Nice Nascimento.
Nicolas Soares é artista, pesquisador, curador e gestor cultural formado pela Escola de Belas Artes da UFBA, em Salvador, e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES, em Vitória. Diretor do Museu de Arte do Espírito Santo, assina um artigo sobre Nice Nascimento.





