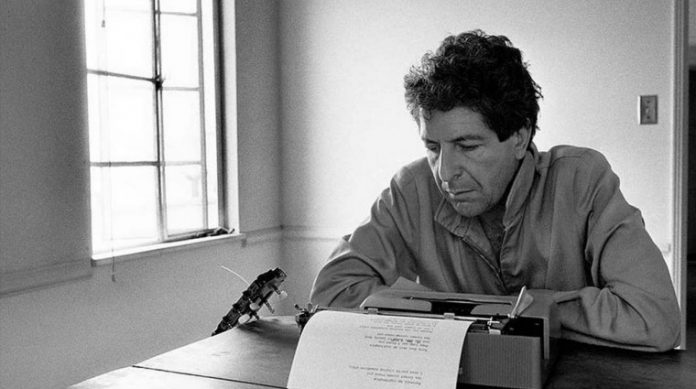De uma longa entrevista, só um trecho muito pequeno havia sido publicado. Durante a conversa, em 1995, o cantor não poupou ninguém. Tudo que não entrou, foi publicado 14 anos mais tarde na Revista Brasileiros. Hoje, páginaB! resgata uma entrevista histórica de Tim Maia.
*Por Márcio Gaspar
Era o início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso como presidente. O Plano Real completava um ano, com governo e população comemorando a queda da inflação − de 40% para os então quase inacreditáveis 2% ao mês; o real em paridade com o dólar e a consequente farra da classe média no exterior. Era 1995 e a música brasileira chorava a recente perda de Tom Jobim (em dezembro de 1994), enquanto os Mamonas Assassinas dominavam o rádio e a TV. Em um apart-hotel dos Jardins, em São Paulo, Tim Maia recebia os jornalistas Marcio Gaspar e Lauro Lisboa Garcia para uma entrevista cujo mote era o lançamento do disco Nova Era Glacial. Lauro, repórter do “Caderno 2″ de O Estado de S. Paulo, que publicaria poucos dias depois alguns trechos da conversa; e Marcio, da Qualis, efêmera revista especializada em música, que fecharia suas portas antes da publicação da entrevista.
A maior parte da memorável conversa com Tim Maia, que morreria três anos depois (em 15 de março de 1998, aos 56 anos), permanecia inédita até agora. É possível ouvir trechos da entrevista no blog www.afroencias.com.br. Os jornalistas encontraram um Tim Maia surpreendentemente bem disposto às 9 horas daquela manhã. E como era de seu feitio, o cantor não mediu as palavras. Além do imenso talento musical, a autenticidade de Tim Maia era outra de suas melhores qualidades.
Marcio Gaspar – Que história é essa de acordar tão cedo? Nova fase, bem mais saudável?
Tim Maia – Não, sempre acordei cedo. Mas agora, tô acordando cedo mesmo porque… eu acho que isso é negócio de velhice, sabia? Que nem galo. Galo velho empoleira cedo, né? E acorda mais cedo. Acho que é isso, deve ser a idade. Eu sempre acordei cedo… às vezes, nem dormia (risos).
M.G. – Você costuma ouvir seus discos antigos?
T.M. – Tô ouvindo agora… É o maior barato, sabia? Como sou um cara que sempre grava músicas falando de algo que aconteceu, aí dá pra lembrar. Lembrar das “cumadizinhas”, dos momentos legais e dos momentos tristes também.
M.G. – Entre esses discos, qual você acha o mais legal?
T.M. – O cantado em inglês (Tim Maia, 1978) é o que eu gosto mais.
Lauro Lisboa Garcia – Nesse novo disco, você gravou “Corcovado” e “Meditação” em inglês, e já tinha gravado as duas em português. Por que gravar em inglês?
T.M. – Foi uma homenagem ao Antonio Carlos Jobim. Essa versão que está saindo aí tem cinco anos. A voz em português, gravei em cima da voz que havia colocado em inglês. É essa aí, no Tim Maia Bossa Nova. Eu tenho isso em CD também, mas lancei pela Vitória Régia (selo do próprio Tim). Foi o único disco que não dei pra Continental. Aquilo ali é minha aposentadoria, entendeu?
L.L.G. – Vendeu bem esse disco?
T.M. – Vendeu. Eu sempre digo que vendeu menos, que nem as gravadoras falam pra não pagar direitos autorais. Eu também digo que vendeu menos. E não tem jeito de provar, né? Nem eles.
M.G. – Quantos discos você calcula que já vendeu até hoje?
T.M. – Acho que bem menos que Chitãozinho e Xororó, viu? O Roberto (Carlos) também vende mais. Mas, mais ou menos que nem Jorge Ben, Fábio Jr., a gente vende assim, igual, na mesma base. Cem mil discos, cada disco. Ainda bem.
M.G. – Aquela fase da BMG vendeu pra caramba, né?
T.M. – Não. Vendeu mais ou menos porque a BMG é que nem aquele produto, Denorex (xampu anticaspa): “É, mas não é”. A BMG faz mais disco pra outras pessoas. Aquela fábrica de discos que fabrica para outros, já não é mais aquela coisa do idealismo… Quer dizer, idealismo artístico nenhuma delas tem mais.
L.L.G. – Tim, como ficaram os seus direitos em relação aos discos que você produziu pela Seroma (a editora do cantor)?
T.M. – Olha bem, esses discos que estão sendo lançados pela Continental/Warner são discos que eu autorizei e estou ganhando uma mínima porcentagem, aquele levadinho que a gente ganha sempre. A Polygram lançou sem autorização. Eu tô com duas ações contra a Polygram. Uma pro primeiro disco, aquele A Arte não sei quê (A Arte de Tim Maia, 1988). E agora, onze CDs… Eles lançaram um CD meu agora… Meu não, nosso, é do Cassiano, Hyldon e eu. São os “reis do grilo”. Esse disco devia se chamar “Os reis do grilo”, porque eu sou o rei do grilo, o Cassiano é o deus do grilo e o Hyldon é o grilo (gargalhadas). E agora, lançaram mais um grilado também, botaram mais um: Luiz Melodia. Aliás, esse CD – foi disco e virou CD -, Tim Maia, Hyldon e Cassiano, tem na capa uma fotografia de natureza. Interessante… acho que acharam a gente feio demais, acharam parecido com assaltante. Sei que, porra… não colocaram nem a cara da gente, achei aquilo tão… a Polygram… eles fazem isso. A Sony Music também. A Sony pegou agora uns direitos que tinha que pagar para a Seroma e pagou diretamente aos compositores, o Michel e o Gilson (Mendonça, autores de “Descobridor dos Sete Mares”). Pô, deu mó confusão, tive de acionar eles também, briguei com os compositores. Logo após, o Lulu Santos grava a mesma música, estoura. Washington Olivetto colocou num negócio da Rider aí, tocou. É muito relativo isso, entendeu?
L.L.G. – Mas, você não achou ruim o Lulu Santos regravar “Descobridor dos Sete Mares”, né? Você já tinha gravado uma música dele (“Como uma Onda”)…
T.M. – Não, não. Quer dizer, esse lance da W/Brasil era isso: eu gravaria uma música do Lulu Santos, depois ele gravaria uma música minha. Só que o Washington escolheu essa música e não procurou saber se a música era minha ou não. A música é de Gilson e Michel. Aí, deu uma confusão e eu já tava em atrito com eles, né? Devido a uma gravação da Deborah Blond, Bland, Blondor…
M.G. – Deborah Blando.
T.M. – Deborah Blando. Ela gravou essa música num disco promocional da Coca-Cola, que vendeu cem mil cópias e criou lá R$ 13 mil, R$ 15 mil de direitos. Eles teriam de pagar pra mim os R$ 15 mil para eu tirar meus 25% da editora e pagar aos compositores. Aí, eles pagaram direto. Aconteceu a mesma coisa com a Som Livre, na música “Paixão Antiga”, que é do Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Então, tem esse lance do desrespeito das gravadoras com os compositores e artistas. Por isso, eu tô acionando o Bonifácio Sobrinho (Boni, então diretor de programação da Rede Globo). E em todas as ações que estamos movendo contra o Bonifácio Sobrinho, o senhor Roberto Marinho está sendo arrolado.
M.G. – Você está banido da Globo?
T.M. – Eu acho que eles tentaram me banir por algum tempo, mas agora não vai acontecer mais porque eu cheguei à conclusão que tenho de lutar pelos meus direitos. Eu quero que isso seja um exemplo pra outros artistas. Tô movendo uma ação criminal e uma ação cível contra o Bonifácio Sobrinho. Porém, eu me comuniquei com ele antes, dizendo que nós iríamos mover a ação, como se faz. É de praxe você chegar e diplomaticamente avisar o cara: “Ou dá ou desce!”, entendeu? Mandei uma carta pra ele; ele não falou nada. A mesma carta nós endereçamos pro Roberto Marinho; ele também não falou nada. Aí, mandamos uma outra carta… Todas essas cartas, registramos em cartório, pra valer na ordem judicial também. Eles não deram a mínima. Então, agora estamos entrando com uma ação cível e uma criminal. Porque eu acho que o que ele tá fazendo é crime, entendeu? Tá me boicotando. E é um boicote assim vitalício, sacumé? Não é um boicote tipo: “Você não vai cantar aqui durante três meses porque você nos sacaneou”. Eles alegam que eu não fui no programa do Fausto Silva e isso tira a moral dele… Não tira, ele é um ditador. O Boni é um ditador. Ele pode me acionar por eu estar chamando ele de ditador, mas tudo bem. O Mariozinho Rocha (na época, diretor musical da Rede Globo) já me acionou duas vezes. Me acionou criminalmente porque eu falei que ele recebia R$ 10 mil por cada música que se coloca na novela. Aí, um cara lá do Jornal do Brasil – eu sempre me esqueço o nome dele, o filho da puta do… – me perguntou: “É verdade que o Mariozinho recebe dez?”; falei: “Não, recebe quinze!” (gargalhada). Quer dizer, eu vou acionar eles pra acabar com essa farsa, com essa mentira, que o mundo todo sabe que todo mundo recebe jabaculê no Brasil, né?
M.G. – Mas ninguém fala.
T.M. – É aquele negócio da minha música (“Nova Era Glacial“), né? “Todo mundo sabe, mas ninguém quer dizer.” Então, por exemplo, o Lauro tava falando: “Pô, você lançou esse disco (Voltou Clarear, 1994) meio na incógnita, meio na moita”.
L.L.G. – Não, é que o disco saiu e não teve grande repercussão.
T.M. – Não teve nada de repercussão porque… você vê a coisa? Essa música (“Voltou Clarear”) tá tendo a maior repercussão nos shows. O apelido dessa música é “melô do último a saber”. Acho que todo mundo se identifica com esse negócio de corno; o brasileiro é o rei do chifre. As mulheres, principalmente, se identificam, porque são chifradas também, né? Essa música não tocou porque não paguei jabá pra ninguém. Inclusive, a música anterior, “Como uma Onda”, tocou pra cacete. Aí que eu fiquei sabendo também quanto custa o jabaculê, né? Os jabás são fortes, cara…
L.L.G. – De rádio?
T.M. – Rádio… rádios que nem tinham isso vivem exclusivamente de jabaculê. Porque não é a rádio que vive. Quem vive disso são os programadores e os próprios locutores de cada horário. Acho que o dono da rádio nem ganha nenhum tostão com isso…, mas é demais, cara. Tem rádio que pede R$ 40 mil por uma música.
L.L.G. – Pra tocar por quanto tempo?
T.M. – Um mês. Trinta dias, quarenta mil reais. Mas aí, estoura a música, né? Porque ele executa dez vezes por dia, aquela porra “nhem, nhem, nhem” no ouvido do cara… Nas televisões, a mesmíssima coisa. É jabá pra todo mundo… O Silvio Santos tem menos. Acho que os programas dele são muito ruins, então não dá pra ele, entendeu (gargalhadas)? O Silvio Santos é ruim demais. O Show do Silvio Santos, meu amigo… Outra coisa que eu gostaria de falar, quero mandar um recado pro Caçulinha. O Caçulinha tinha um conjunto maravilhoso no Canal 7; porra, acompanhava aqueles artistas todinhos: Elis Regina, Jair Rodrigues, esse pessoal todinho. Pô, um cara muito simpático… o Caçulinha é super benquisto no meio artístico. Não sei por que ele atura aquilo, cara! Agora, colocaram ele com um negócio de chifre, já viu? Tem um chifre na cabeça dele, cara! Você não viu não? Uma vez, botaram ele na geladeira, não sei se você viu, botaram na geladeira! É, um pinguim na geladeira,com aquele pianinho. E fica o Faustão, o programa inteirinho sacaneando o “coiso”… E ele mesmo não toca nada naquele programa! Tem uma hora que ele faz: “Toca, Caçulinha”! (imitando o Fausto Silva): “Ó o nariz do Caçulinha! O Caçulinha é um babaca!”. O Caçulinha é o saco de esporro, o saco de pancada… Pô, por quê? Gostaria até de convidar o Caçulinha pra tocar com a gente na banda Vitória Régia; a gente arruma uma sanfoninha pra ele, pode até vir com o pianinho dele, coitado… Ele não precisa daquilo, é um cara de renome! Antes do Fausto Silva chegar, o Caçulinha já estava aí há anos… Acho aquilo tão ridículo… Deviam botar o Bonifácio Sobrinho lá de chifre e o Roberto Marinho dentro da geladeira. Isso eles não fazem. Fica lá o Faustinho puxando o saco do Roberto Marinho. “Oi, seu Robertinho. Como vai, tudo bem? Tudo bem, seu Roberto?” Isso é uma coisa que denigre a imagem de um músico, saca? O músico fica esculachado, o músico é um saco de piadas. Músico é pra tocar música! Não pra ficar ali, sendo motivo de chacota.
M.G. – Você sempre batalhou pelo reconhecimento do músico, sempre exigiu a banda Vitória Régia em todos os seus shows, contratos, créditos, etc. Mas, ao mesmo tempo, se o cara erra num show, você já: “Porra, não sei o quê…”. Roupa suja não se deve lavar em casa?
T.M. – É totalmente espontâneo. Não tem nada de esporro, não. É um toque na hora que me fere. Aquilo me fere. Não tem esse negócio de esporro no músico, isso é mais folclore. O lance é mais com técnico de som; o músico, não. Agora, quando tem uma mancadinha… Cara, isso é totalmente espontâneo.
M.G. – É que você toca tudo também, né?
T.M. – Toco uns instrumentozinhos. Hoje mesmo estamos com um problema aqui pra programar uma bateria, que é mó merda. Temos que programar uma bateria porque o baterista “sartou de banda”… Esses esporros todinhos que eu dei em músico não chegam nem à milésima parte que cada um fez comigo. Oito músicos me acionaram! Só um me levou R$ 117 mil, de uma vez só! Cento e doze mil reais porque eu perdi a causa, mais cinco de FGH… FG… FGTS. Outro, que é trompetista, é sargento dos bombeiros até hoje, me acionou também e já levou R$ 100 mil. Tentei lutar e tudo mais… E teve um bebum que chegou agora. Entrou ano passado, totalmente bêbado, caído na vala… e eu ainda gastei R$ 5 mil com o advogado do cara. Tem de ver os advogados! Eles achacam mais que os próprios caras! Aí, o advogado chega: “Vai dar cinquinho”. Cinquinho, filho?! “Você sabe como é que é.” Eu fui acionado por oito músicos! Eu falava com a mãe de um deles no telefone: “Oi, como vai a senhora?”; (fazendo voz de mulher) “Oi, Tim Maia! Toma conta do meu filho”. “Pois não, minha senhora. Se a senhora soubesse… já tinha matado e entregado num caixãozinho: seu filho tá aí, eu tomei conta dele.” Tinha outro, trombonista, que eu levava o filho em casa. Me acionaram…
M.G. – Mas tem também aqueles que estão com você há bastante tempo, né?
T.M. – Agora não tem mais. Só tem o Chumbinho (Paulo Roberto, baixista), porque o Tinho (João Batista Martins, saxofonista), que estava há dez anos, saiu semana passada. Porque tinha o show do Tim e tinha o show do Tinho. Isso é um problema, sabe? Músico… raro é o músico amigo, entendeu? Por exemplo, vou gravar com Os Cariocas agora, semana que vem. Os Cariocas… trinta anos cantando juntos. Cantam porque gostam de cantar, sabe? Eles ensaiam o dia inteiro. Trinta anos juntos e aquele negócio ali, tudo por música. Não é de mentira não, é tudo por música, coisa seriíssima, cara! Isso é músico, entendeu? E tem gente que toca há não sei quantos anos… por exemplo, o caso do Caçulinha. É um ótimo músico, mas não evoluiu porque só agora começou a comprar uns tecladinhos. Mas também, como é que faz? Se sujeita a um negócio daqueles…
L.L.G. – E o público da televisão acaba nem sabendo o valor que ele tem.
T.M. – É, ele toca bem, é um cara musical pra caralho. Então… o negócio do músico é relativo pra caramba, entendeu? Tem uma amiga minha que fala que músico, advogado e pedreiro é foda (gargalhada). E é verdade, cara! E o único que trabalha deles – mas que enrola um pouco – é o pedreiro. Porque esse ainda faz, pelo menos, o cara faz. Te enrola, mas é uma pessoa humilde, que quer te dar uma facadinha a mais porque você tem mais que ele, né? Mas, advogado e músico, meu filho… Outro dia, numa matéria o cara perguntou: “E o negócio dos advogados, como é que você faz?”. “Ah, tô com três agora. Eu mando um, outro pra vigiar aquele e aquele pra vigiar o que eu mandei depois.” Pô, os caras ficaram putos comigo lá no Rio! A Ordem dos Advogados falou: “Ô, Tim Maia, que negócio é esse, rapaz? Você faz uma declaração dessa, é brincadeira”. Mando logo três. E mesmo assim, ainda é bem difícil.
M.G. – Você vai fazer seu songbook ou ainda acha que isso é pé na cova?
T.M. – É meio, né? Songbook não é tanto não, mas biografia… É que nem aquele especial da Globo que tinha antigamente. Quando o cara já tava bem baleado, a Globo fazia um especial com o cara. Aí, semana que vem o cara, bum!. Aí solta o especial, né? O cara morreu uma semana antes, deve estar fresquinho…
M.G. – Como você entrou naquela história da seita Cultura Racional, do livro Universo em Desencanto?
T.M. – Fase mística, né (risos)? Tomei cinquenta mescalinas e queria ser sócio de São Francisco de Assis (gargalhadas), paz e amor, aquele negócio de hippie: todo mundo ia a pé pra Bahia, aquele negócio “paz e amor, muito LSD”… Eu entrei naquela pra tomar umas mescalinas. Papei cinquenta. Aí, viajei pra cacete e no meio da viagem falei: “Ah, vou virar pra Jesus, Ave Maria” (gargalhadas)… Aí, entrei nessa. A Cultura Racional falava que era uma preparação para a gente entrar em contato com os seres extraterrenos. Eu, como gosto de negócio de ufologia… Sou ligado nessas desde garoto e entrei naquela lá pra ver se era isso mesmo, mas não era. Era um negócio de espiritismo, entendeu? Tinha outros artistas: Jackson do Pandeiro, até o Procópio Ferreira, coitado, antes de falecer, entrou na onda do Universo em Desencanto. Aquilo é uma loucura… O Lúcio Mauro, um bocado de artista, sabe? Altamiro Carrilho… Todo mundo na jogada.
M.G. – Você não acha que você deve atrair quem quer armar pra cima de você por causa da fama de maluco?
T.M. – Claro, justamente. Eles pensam que a gente tá dormindo, mas tá sempre acordado. Existem vários empresários que já armaram pra ganhar dinheiro comigo. Teve um empresário uma vez, em Campinas, que na hora de entrar no palco, ele falou: “Tim Maia, é o seguinte, aí” – naquela época o show era duzentos, não sei o que era, mas era duzentos – “te dou cenzinho agora e tu volta pro hotel…”. Eu: “Tu tá maluco, cara? São quatro da manhã!”. Nesse dia, foram 32 mulheres pro hospital e nós fomos retirados lá do ginásio no tal do tático móvel. Pessoal muito educado que vai chegando assim: “Filho da puta!”. Isso é o mínimo que eles falam, né? Era tudo preto ainda. “Vai, crioulo filho da puta!” E isso tudo com um cassetete que dá choque. Eles encostam o cassetete na pessoa e “tchen!”. Mas nós fomos retirados desse clube por um tático móvel, às cinco horas da manhã, porque teve uma porrada geral no clube, porque o cara armou duzentos e no final queria cenzinho, metade do cachê. Tem uns caras de show aí que são meus amigos até hoje, mas que fizeram um boato que porra… Minha mãe ainda era viva, foi mó problema, minha mãe passou mal. Disseram que eu tava com câncer no cérebro. As pessoas ligavam pra minha casa, uma loucura, até o dia que me mataram mesmo: “Tim Maia morreu”. Falaram pra minha irmã: “A senhora sabia que seu irmão faleceu?”. (Ela): “Meu irmão tá dormindo aqui, doidão!”. Tem essse folclore que é uma merda. É que nem aquele negócio de dar esporro nos músicos. O que os músicos arrumaram de confusão ninguém fala. Eles já me levaram quase R$ 400 mil, cara. Troço pra você comprar três apartamentos. O meu carro é um Monza, cara. Poderia estar com um Mitsubishi 446, um BMW, blá blá blá, e tô pagando músico, R$ 100 mil cada um. Esse dos R$ 117 mil foi foda. Sabe o que é o cara te levar R$ 117 mil? Dinheiro que eu economizei minha vida inteira! Fui acionado por oito músicos. Eu tentei tudo. Sabe o que eles falaram pra mim? “Tim Maia, você perdeu o prazo.” Prazo?! Tinha vez de ter dois julgamentos numa tarde só. Tinha de arrumar dois advogados…
L.L.G. – Seis, no caso, né?
T.M. – Seis! Só com esse processo aí dos músicos, eu já me envolvi com uns 12 advogados. A gente vai tentando empurrar com a barriga, né? Mas não tem jeito.
L.L.G. – Você tem composto mais. Queria que falasse um pouco dessas últimas músicas e principalmente dessa “Nova Era Glacial”.
T.M. – “Nova Era Glacial” é uma música que fala sobre uma possível ou provável era glacial. Acredito que vai esfriar porque a gente vê as notícias aí e nota que o negócio tá mudando. Eu acho que nós estamos entrando numa nova era glacial. Existe até uma polêmica entre os cientistas aí: uns dizem que a Terra está esquentando. Mas eu acho que está esfriando. Esse aquecimento é justamente um aquecimento pra vir o frio. E parece que o negócio vai esfriar mesmo. Não sei daqui a quanto tempo, entendeu? É nesse milênio agora. Eu não tô prevendo nada, mas “derrepentemente” nesse milênio eu tenho certeza que vai ter uma nova era glacial. Mas tem tempo pra caralho.
L.L.G. – De onde você concluiu isso?
T.M. – Os cientistas, esses arqueólogos, esse pessoal aí, acham que nós já passamos por uma era glacial. Outros dizem que passamos por… Eu acredito que nós já passamos por umas quatro ou mais, devido ao tempo que o mundo tem. O ser humano tem 60 mil anos. A Terra tem quatro bilhões. Então, eu acredito que nós já passamos por várias eras glaciais, dilúvio, Arca de Noé. Arca de Noé foi um grande dilúvio, né? E me parece que está acontecendo a mesma coisa. Esse efeito estufa, esse negócio de camada de ozônio, sabe como é que é? Isso tá esquentando pra depois esfriar. Eu acredito que seja isso. É uma coisa intuitiva, né? Mas também muitas pessoas defendem essa tese; não sou eu só. Existem milhares de cientistas que acreditam que o mundo está entrando numa nova era glacial.
L.L.G. – Você tem interesse por ciência?
T.M. – Meu interesse é totalmente ufológico, transcendental. Eu não tenho interesse por nada daqui. Acho que aqui tá muito confuso… Eu tava falando ontem aqui com outros repórteres de uma outra revista aí, que existem seres intraterrenos, cara. Isso aí é comprovado, isso aí todo mundo sabe. Existem seres que habitam o centro da Terra. Existem pessoas que acreditam em astrologia, essas coisas que não têm nada a ver. Astrologia não tem nada a ver com nada! Porra, astrologia é uma coisa árabe, eles olharam para as estrelas e concluíram que não sei que lá, não sei que lá, baseados em quê, cara? Que a Terra seria o centro do Universo. Aí, viram que não é nada disso, é apenas um Roberto Marinho, um Paulo Maluf, um Roberto Carlos, um Tim Maia, um Maguila, é um ninho onde moram essas coisas, essas pessoas. Pô, Erasmo Carlos, esses negócios assim. É um ninhozinho, um negocinho, uma bolinha onde moram esses bobões aí. E o troço é grande. Eu falei aqui ontem disso para os repórteres: nós somos visitados por noventa seres diferentes, de diversas galáxias, diversas dimensões e existem outras coisas! Existem seres do futuro, mas aí já é uma outra coisa. O que eu tô falando é coisa atual, seres extraterrenos de outras galáxias. E seres que vêm da nossa própria Terra, que habitam o centro da Terra. Eles se chamam os lunares. São seres brancos porque eles não veem o Sol. O que não é verdade mesmo é tomar ayahuasca e dizer que é Santo Daime – isso aí é mó mentira, viu (risos)? É ayahuasca mesmo, aquilo é mó viagem! Sorvete vira beterraba, helicóptero vira máquina de passar roupa, morou? E dão pra criança. Isso aí, não. Faz um mal tremendo ao fígado! Pior troço que tem pro fígado é a chacrona, que eles chamam de Santo Daime. De Santo, o Daime não tem nada! Chama-se ayahuasca, os índios adoram! Toma aquela porra, fica viajando pra caralho. Aí, isso não tem nada a ver com a realidade, isso aí já é uma coisa totalmente mística mesmo – uma erva que faz você viajar, pensando que aqui tá aqui e aqui não tá, tá lá. E fica aquela confusão do cacete. Eu digo assim, conscientemente, caretinha, sem tomar nada, sem nenhum ritual, sem incenso – também não tem incenso – nem batidas de matraca. Então, o negócio é totalmente cosmológico, é verdade mesmo. Eu tava falando pros caras ontem que existem mulheres aí que já transaram com seres estranhos, tem de tudo por aí.
L.L.G. – Eu achei um compacto simples seu, em inglês. Era só Tim. Sem sobrenome. Aquele foi seu primeiro disco?
T.M. – Foi o primeiro, gravado aqui em São Paulo, pela Fermata.
L.L.G. – Isso foi antes de você ir para os Estados Unidos?
T.M. – Não, foi quando eu voltei.
M.G. – Quando você foi pra lá, afinal?
T.M. – Fiquei três anos sem falar uma palavra em português. Eu fui em 1959 e voltei em 1964.
M.G. – Voltou ou foi “voltado”, Tim?
T.M. – Fui voltado. Mas já tô bem, tô com quatro anos de visto no meu passaporte, já fui pra lá três vezes depois que fui deportado. Mas fiquei dez anos sem poder voltar. A minha relação com os Estados Unidos é totalmente emocional, sentimental; não tem nada a ver com ganhar dinheiro, com carreira, nada disso. Talvez no futuro…
M.G. – Mas acho que daria o maior pé uma carreira lá, né?
T.M. – Eu acho que daria.
L.L.G. – Você já pensou em lançar esse disco em inglês nos Estados Unidos?
T.M. – Pois é. Esse eu tô regravando pra lançar lá. Já gravei muito em inglês, músicas minhas e de outros, mas gostaria de gravar mais ainda. Além dessas de bossa nova, porque essas da bossa nova… Eles fizeram umas letrinhas assim muito intelectualizadas “quiet nights of quiet stars“… Pô, ninguém fala isso em inglês. O cara fala “baby I love you”, “come back to me”, “don’t go away”.
L.L.G. – Dessas que você escolheu pro segundo disco de bossa nova, você vai cantar alguma em inglês?
T.M. – Não, tudo em português. Porque não funciona isso. Tem de ser em português aqui e em inglês pra eles lá fora.
L.L.G. – Você disse também que queria evitar gravar músicas que o João Gilberto já tivesse gravado. É isso?
T.M. – Não, isso é brincadeira, é só sacanagem. Eu acho o João Gilberto um excelente músico e cantor, mas de personalidade, acho ele assim… quatro-quatro-meia. Quatro-quatro meia é uma fração; 4,46, não chega a ser cinco. Tá entre o quatro e o cinco – quatro-quatro-meia.
M.G. – Como rolou o lance de gravar com a Elis?
T.M. – Com a Elis Regina, eu já havia gravado dois compactos. E o Erasmo, a Rita, o Serginho e o Arnaldo, dos Mutantes, me levaram pra Polygram. Quando eu cheguei lá, o pessoal já me conhecia, já sabia o jeito que eu cantava, eu já tava com as músicas prontas, já tinha rolado o lance com o Cassiano. Tanto é que eu gravei “Primavera” em agosto de 1969 e tentei de tudo pra soltar o disco na primavera, mas saiu em janeiro de 1970. Aí, aquele puta janeiro fervendo e eu cantando “É primavera…” a 40 graus. Mas aí estourou. Quando estourou, o pessoal da gravadora me chamou: “Tim Maia, rápido, vamos gravar um LP”. Aquela coisa de gravadora, né?
L.L.G. – Daí, desse primeiro LP, tocou praticamente tudo.
T.M. – No Rio de Janeiro, ficamos 22 semanas em primeiro lugar. Por isso, eu acho que vendi mais do que 200 mil.
M.G. – E daí pintou a gravação com a Elis?
T.M. – Foi uma armação do Nelson Motta, do falecido Ronaldo Bôscoli, do Miele… saiu no disco dela. Mas uma coisa que eu não achei legal, e que ainda vem um monte de gente hoje me perguntar: “Elis Regina te lançou?” Peraí, eu que lancei Roberto Carlos, como é que pode ela me lançar? Vamos com calma. Mas aí saíram com essa: “Elis Regina lança Tim Maia”. Isso foi uma armação, mas ela não teve nada com isso. Eu gostava muito dela e sinto que poderia ter gravado mais coisas com ela. Ela era muito musical, era musical demais… Até hoje falo: pra mim, a melhor mesmo foi Elis. A Rosana canta bem também, mas a Rosana é muito perturbada, muito confusa, pôs silicone até no… É a rainha do silicone. E tão bonita, tão gostosa… A Rosana canta bem, a Jane Duboc canta mais ou menos, mas é muito inibida, aquela menina, a Cláudia, cantava bem, mas excedia. A Elis Regina, não; ela ia no ponto mesmo. E tinha uma cabeça legal, inteligente. Mas as pessoas achavam que não. Era aquele negócio: “Ah, é muito temperamental…”. Tudo babaca que não tem sentimento nenhum, que não cria porra nenhuma, que não consegue se expressar com nada, quando vê uma pessoa que se expressa… É o tal negócio do Van Gogh: louco, maluco, mas depois o quadro dele tá custando 60 milhões de dólares. Mas na época, quase mataram o cara.
L.L.G. – E a tua opinião a respeito da Marisa Monte?
T.M. – Engraçado, a Marisa Monte tá cantando igualzinho à Gal Costa, não entendi porra nenhuma.
L.L.G. – Mas a Gal do começo de carreira, né?
T.M. – É. Uma vez eu ouvi a Marisa Monte e parecia a Zizi Possi, daí eu conheci a Marisa, fizemos até amizade. Não é que eu tô magoado com ela, mas olha: o “Chocolate”, ela gravou, canta nos shows, mas fez um negócio que eu não gostei, ela canta “não quero cocaína, me liguei…”, não tem nada a ver, a música não tem isso. O Lulu Santos também botou Porto de Galinhas (na “Descobridor dos Sete Mares”) onde não tinha Porto de Galinhas porra nenhuma, eles modificam totalmente. Eu acho que, quando você se propõe a gravar uma música de uma pessoa, inclusive quando aquela música já foi gravada, você tem de obedecer aquele critério, aquela forma, senão fica uma coisa…
M.G. – Aliás, você mudou uma palavra na “Aquarela do Brasil”…
T.M. – Só se eu errei…, também, é letra pra cacete. Eu não sei onde esse rapaz tava com a cabeça quando fez essa letra. “O coqueiro que dá coco” é demais, né? Vai dar o quê? Laranja? O Ari Barroso … que Deus o tenha em bom lugar.
L.L.G. – Tim, esse disco de bossa nova saiu faz menos de um ano, agora você está lançando outro e tem mais dois em projeto para esse ano?
T.M. – Olha, eu sou diretor-presidente da Vitória Régia Discos, a única que paga aos domingos após as 21 horas. Eu sou o único artista da casa, então não tem jeito… Eu gostaria de ter o Stevie Wonder com a gente também, mas…
L.L.G. – Ah, o Ray Charles está vindo aí agora. Convida ele…
T.M. – Mas ele tá vendendo pouco disco. Prefiro o Leandro e Leonardo, que tão vendendo muito mais (risos).
M.G. – Tim, você era de uma turma, há muito tempo, com Roberto, Erasmo, Jorge Ben e depois de uma outra galera – Cassiano, Hyldon…
T.M. – É, esse é o segundo time.
M.G. – Aquele time anterior se deu bem; o segundo não. Por quê?
T.M. – Bom, aí é aquele negócio: “Por que Tostines vende mais? Porque é fresquinho. E por que é fresquinho? Porque vende mais”. Você quer ver uma coisa? Eu fiz outro dia o programa do Jô Soares e brinquei lá com a idade da rapaziada. Depois, disse que teve uma época que o Roberto Carlos andou fumando cachimbo e usava uma capa estranha, enquanto o Erasmo andou querendo entrar na Academia de Letras. Eu falei: “Calma aí que aqui ninguém estudou porra nenhuma, para com esse negócio porque aqui, intelectual ninguém é”. Eu disse isso lá no Jô Soares e completei: “A gente não tem curso nenhum, o único que temos, e mesmo assim incompleto, é o curso de datilografia do Colégio Ultra”. Daí, no outro dia, liguei pro Jorge Ben e ele tava puto, todo zangadinho. Eu perguntei: “O que aconteceu, Jorge?”. E ele: “Sabe o que é Tim? É que a minha tia assistiu o Jô Soares e me disse que você falou mal de mim”. Eu falei: “Mas o que é isso rapaz, eu nunca falei mal de você, que babaquice”. Daí, eu chamei a mulher dele no telefone, a Domingas, e ela me disse: “Não Tim, não liga não, isso aí é a tia do Jorge que é muito fofoqueira…”. Daí, eu descobri que ele tava puto era com o lance da idade que eu falei. Porque ele diz que tem 46… se ele tem 46, eu tenho 38. O que eu queria explicar é que o Jorge Ben não fazia parte da nossa turma, da primeira. Eu conheci ele um pouco depois. Mas eu acho que ele se grilou porque eu falei que a gente não tinha cultura. E ele também não tem mesmo, não estudou porra nenhuma…
L.L.G. – Você e o Jorge Ben ressurgiram meio que juntos, uns três anos atrás…
T.M. – Não, isso também é uma outra coisa que eu quero retificar. Nós não ressurgimos, ele é que ressurgiu. Eu só não tava na mídia, não tava na Globo. Eu dou esse exemplo: fiz cinco anos de Chic Show aqui em São Paulo, dois shows por ano. Teve vez que colocamos 23 mil pessoas lá no Palmeiras, teve uma outra que quebraram não sei o quê lá e o cara nem queria mais alugar pro Tião do Chic Show. Depois, eu gravei com a Sandra de Sá e ia fazer um show com ela. Mas ela tava meio estrela, não apareceu, e eu tomei o maior preju por causa do Marcos Lázaro. Agora tem o tal do (Manoel) Poladian. A cada hora pia um, e tudo com esses nomes esquisitos, não tem nenhum Pereira ou Silva. Lázaro, Poladian… Eu fiquei sabendo uma do Poladian que é demais: ele leva um ônibus cheio de cambista. Chega no local, ele mesmo compra os ingressos e daí vende pelo triplo do preço.
L.L.G. – Eu relacionei você com o Jorge porque tem um disco seu que está sendo relançado agora que tem várias músicas no estilo discoteque. Agora, o Jorge está regravando sucessos antigos dele com estilo dance music. Você chegou a ouvir isso?
T.M. – Eu acho uma tremenda besteira o que eles estão fazendo. Isso não tá com nada. A pipoca tá na mão, todo mundo quer pipoca… Calça Lee tá na moda, todo mundo quer calça Lee… E aí, numa dessa, o cara pode se queimar, o Jorge Ben pode se queimar. Porque a música dele não tem nada a ver com house, a música dele já é uma house normal e todo mundo dança normal, não precisa botar um bumbão lá, um bate-estaca pra fazer alguma coisa. Um cara me propôs isso, mas eu disse: “Solta o ‘Nova Era Glacial‘ aí a todo vapor e vamos ver se não vai todo mundo pra pista”. Não precisa tum-tum-tum pra imitar americano mais ainda e com algo que tira a musicalidade da coisa. Eu já podia ter feito isso, já me convidaram pra fazer isso. Numa matéria que eu li no jornal ontem, o Lulu Santos tava me elogiando: “O Tim Maia é o maior”. Obrigado, muito obrigado. Daí fala o cara, o tal do DJ Memê. Ó o nome do cara: Memê. E ele manda o seguinte: “Ah eu gosto do Tim Maia, sempre fui fã dele, mas agora ele deu de cantar essas músicas brega…”. E eu pensei xiii… olha o cara, olha o Memê… ele toca o que mesmo? Toca oboé, toca tímpano, toca violino?
M.G. – Ele toca toca-discos.
T.M. – É, ele toca toca-discos. Toca disco ao contrário. Estudou pra cacete, se concentrou pra fazer aquele nhé-nhé-nhé… Como é que um Memê desses vai falar da gente? Eu lancei o Roberto Carlos, fiz um monte de coisa, um monte de parada aí, altas jogadas. Esse é o cara que tá com o Lulu Santos. Quer dizer, eu também já tô achando que o Lulu Santos tá indo prum caminho… Tem de tomar cuidado. Já tá velho, tá de cabelo branco… Esse negócio de funk, de house, deixa pros outros. E outra coisa: esse negócio de funk brasileiro… O rap brasileiro é uma vergonha. Principalmente o rap carioca, mas o paulista também. Imita o americano, fica aquele negão fazendo aquelas coisas (cantarola um típico “funk-falado” carioca). Isso é funk? Isso é rap? O rap é cheio de agá, o rap na verdade é jamaicano e é muito além do que é feito aqui. Por isso que eu acho que o Brasil está precisando urgentemente de cursos de música, de escolas de música. Outra coisa que eu gostaria de falar é que o Brasil está precisando urgentemente de uma universidade para pretos, para negros, uma universidade afro-brasileira. Porque nós temos universidade de tudo que é jeito aí, universidade de padre, universidade de bispo Macedo, precisamos da universidade para negros. Pode entrar branco e japonês também, sem discriminação, mas dando prioridade ao negro. Porque preto não tem como, não tem onde estudar, ele não passa do primeiro grau. Então, eu acho que no Brasil, em lugares diferentes, tem de ter a universidade afro-brasileira. Isso é um grilo do cacete, tem de botar o preto pra estudar; senão, a gente vai ficar sempre por baixo. A Globo, agora, bota lá o (Antônio) Pitanga na novela, aquela família preta, mas não tem nada a ver, continua a discriminação indireta.
M.G. – Você falou aí do Roberto Carlos… Você não acha que estava na hora de ele se tocar e gravar um disco novo, ao invés de ficar repetindo o mesmo há dez anos?
T.M. – Mas eu acho que o Roberto Carlos tá certo. Ele tá aí há trinta anos fazendo sucesso. E a minha mãe gostava dele demais. Até a minha mãe falecer, ele ligou pra ela todo Natal, fazia aquela média, ele conhece meus irmãos todinhos, minhas irmãs, assim como eu também conheço os dele. Nós fomos criados juntos. Por isso, eu achei muito estranho quando eu voltei dos Estados Unidos, ele me deu a maior podada. Porque quando eu voltei, precisava de um apoio. Teve até uma etapa (prisão) que eu puxei lá nos Estados Unidos, de oito meses, por causa de umas cadeirinhas que eu roubei pra uma gravação. A gente ia fazer uma gravação e daí eu fui roubar as cadeiras pra comprar um incentivo pra rapaziada. Mas nem cheguei a comprar o incentivo; já dancei nas cadeiras (risos). Pedi uma ajuda, mas pra quê? Nossa, achei aquilo tão estranho. Eu não conheço os filhos do Roberto Carlos, só conheço a mais velha, a Ana Paula, filha da Nice. Ele também não conhece meus filhos. Eu já tenho neta, ele também.
M.G. – Você tem quantos filhos?
T.M. – Eu tenho três filhos e, agora, uma neta.
M.G. – Algum deles mora com você?
T.M. – Já moraram. Um morou. E o do meio tá sempre na minha casa. Mas o mais novo, não; o mais novo mora com a minha irmã. Ela tomou o meu filho desde criança. Aliás, eu não criei nenhum dos meus três filhos. Só facada mesmo – de 10 mil, de 100 mil -, eu só financio. A minha neta é filha do Zé Carlos, o mais velho. Ela é lindinha, muito bacana. Eu preservo esse negócio de família. Ontem mesmo, tava falando com o filho do Erasmo no telefone… e lembrei uma vez que o Erasmo me deu cinco calças Saint-Tropez, daquelas que aparece a bunda quando você entra no táxi, sabe. Imagina, eu com cento e não sei quantos quilos e com aquela calça… Eu conto sempre isso pro filho do Erasmo, o Gugu. Então, eu sinto esse negócio da família e lamento que pessoas que foram criadas juntas como eu, o Roberto, o Erasmo, um não conheça pessoalmente os filhos do outro. As minhas irmãs adoram eles, a mãe do Ed Motta gosta muito do Roberto.
M.G. – E o Ed Motta, você se dá com ele?
T.M. – Não, não me dou não.
M.G. – Você acha que ele é seu sucessor?
T.M. – Eu acho tão horrível esse negócio de sucessor… Isso é coisa de ditador.
L.L.G. – E herdeiro, pode ser?
T.M. – Isso de herdeiro também é ruim. E ruim inclusive pra ele, porque ele entrou nessa e se deu mal com isso.
L.L.G. – E ele andou falando muito mal de você…
T.M. – Pois é, um troço tão estranho… meu sobrinho, pô.
M.G. – E ele tem talento, né?
T.M. – Tem, ele canta bem. É musical, mas muito enrolado, estranho pra caramba. O Ed parou de falar comigo e eu não gosto muito de falar disso porque eu sou muito amigo da mãe dele, é a minha irmã que eu considero muito.
M.G. – Tim, o Fernando Gabeira está com um projeto de liberar a maconha. Você é a favor ou contra?
T.M. – Sinceramente, cara, o Fernando Gabeira já foi uma coisa, virou outra e agora já é outra totalmente diferente. Quando ele sequestrou aquele embaixador, porra… dei o maior apoio, entendeu? Aí, veio com esse negócio de Partido Verde, já ficou meio quatro-quatro-meia e agora diluiu demais. A maconha já tá liberada, a cocaína e a pena de morte também. Isso já tá liberado no Brasil faz tempo. Quer mais maconha do que no Brasil? O Brasil é o maior produtor de maconha do mundo! Ninguém planta mais maconha do que o Brasil. E Pernambuco é o Estado onde mais se planta maconha no mundo. E o brasileiro é o maior maconheiro do mundo! Alcoólatra também, por excelência, mas queima um fumo violento! Todo brasileiro queima fumo: vai lá no Norte, puta que o pariu, todo mundo gosta… No Sul, também adoram. Todos, todo mundo! Então acho que é uma demagogia do cacete. Poderia se plantar isso aí e colher bons frutos, uma maconha boa, THC bem forte…
M.G. – É, mas ainda tem os coitadinhos que vão em cana só por causa de um baseadinho…
T.M. – É uma estupidez. Mas me parece que o negócio vai liberar mais agora, pelo menos em casa. Tem aquela moça que tá sendo julgada agora lá na Turquia. Ela disse que não sabia que o que deram pra ela era maconha… que ingenuidade (risos). Ela só sabe que o nome do cara era Pedro, mais nada. Quem te deu a maconha? O Pedro. Quem te deu a brizola? O Jorge… mas não sei. E os caras que vieram receber a brizola? Hummm, não sei, não conheço (risos). Coitadinha, tá em maus lençóis. Mas naquele filme, Expresso da Meia-Noite, o cara tá levando cinco quilos de haxixe, e eu pensei que era heroína… O haxixe é a melhor coisa que tem pra acalmar os ânimos, não faz mal pra ninguém, é bom pra glaucoma. Acho uma estupidez, uma demagogia do cacete, proibir fumo, entendeu? O fumo é uma planta, uma coisa natural… Eu fui intimado duas vezes nessa semana, pra ir na polícia. Eu não vou em lugar nenhum. Tem um cara lá que foi preso, deram porrada no cara pra ele dizer que trazia haxixe pra mim. Daí, em juízo, o cara falou que não era nada disso, que levou porrada na delegacia, na 27ª, lá em Brás de Pina, no Rio de Janeiro. Daí, fui intimado e mandei meus advogados lá…
M.G. – Os três, né?
T.M. – Dessa vez foram dois (risos). Mas foram lá pra explicar… Volta e meia tentam me envolver nessas porras aí, cara, e por causa de haxixe. Ainda se fosse cocaína, heroína… mas haxixe? É uma estupidez. THC… cannabis… Proibir a cannabis e liberar o álcool é a maior loucura, uma coisa porca, suja, imunda, mentirosa! Porque o álcool destrói o ser humano em poucos anos, em meses. Se você beber mesmo, o teu figueiredo não aguenta. Eu mesmo, não posso beber mais. E olha que eu não bebia muito, hein? Eu só bebia quando fazia show e quando andava de avião.
M.G. – Mas como você fazia muito show e andava muito de avião… (risos).
T.M. – É, fiz show o ano inteiro, andei de avião o ano inteiro, bebi o ano inteiro (risos). Mas deu um negócio no figueiredo aqui… Não posso beber de jeito nenhum. O Roberto bebe muito mais do que eu, o Erasmo tá tomando três garrafinhas daquelas pequenininhas por dia… Jair Rodrigues bebe muito mais do que eu e, depois, diz que é careta. Mas quer dizer, devido a beber quantidades excessivas, eu quase dancei. Então pô… Eu tenho um amigo que queima fumo há trinta anos e não é viciado ainda (risos).