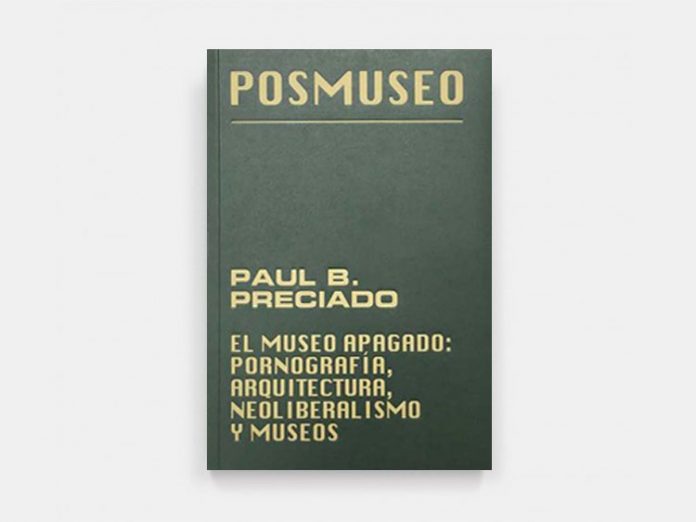Especialmente àqueles que insistem no reducionismo do desinformado epíteto “música de apartamento” ou “música elitista”, falaremos hoje de um disco essencial para compreender que a bossa nova foi muito além do banquinho e violão. Trata-se de um cinquentão moderníssimo, Nova Dimensão, álbum do maestro Lyrio Panicali e sua orquestra, lançado, em 1964, pela Odeon.
De ascendência italiana, nascido há exatos 108 anos (sim, hoje seria aniversário dele) em Queluz, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, Panicali iniciou sua formação de regente em 1922, aos 16 anos de idade, no Instituto Nacional de Música. Aos 26, como maestro e pianista, ingressou na Companhia Negra de Revistas, trupe liderada pelo ator negro Wladimiro di Roma, que marcou época no Teatro de Revista. Discorrer sobre o que depois aconteceu a Lyrio Panicali, como maestro e como compositor, demandaria um sem número de parágrafos. Vamos aqui, então, nos atentar à importância capital de Nova Dimensão.
A despeito do espectro sombrio imposto pelo golpe civil-militar de 31 de março, o ano de 1964 foi dos mais luminares para a música popular brasileira, tanto na seara da canção quanto nas produções instrumentais. O principal agente propagador desse ambiente fértil, claro, era a recém-criada bossa nova. A partir do canto sussurrado de João Gilberto e do horizonte de infinitas possibilidades harmônicas impostas pelo violão divisor do baiano, a geração impactada pela bossa partiu em busca de outras grandes experimentações.

Não por acaso, muitos dos álbuns lançados depois de Chega de Saudade (1959) expressavam, desde o título, um singelo adeus ao saudosismo musical e mantinham olhos e ouvidos fixos no para-brisa do futuro. Caso de Novas Estruturas, de Luiz Carlos Vinhas, Flora é M.P.M (sigla para Música Popular Moderna), de Flora Purim, A Nova Dimensão do Samba, de Wilson Simonal (que contém sete arranjos de Panicali), Samba Esquema Novo, de Jorge Ben, Samba Pra Frente, do Samba Trio e A Hora e a Vez da M.P.M., do Rio 65 Trio de Dom Salvador.
Quando lançou o álbum Nova Dimensão, partindo das direções exploradas por combos inaugurais do samba-jazz (ou bossa-jazz), como o Tamba Trio, o Bossa Três, o Sexteto de Jazz Moderno e o Sambalanço Trio, outra experimentação no formato big-band, com repertório bossa nova e de grande relevo, já havia sido feita por Panicali no álbum A Revolução, da Orquestra Brasil Moderno (Odeon, 1963).
Na ocasião, o compositor Chico Feitosa não poupou elogios ao maestro: “De um gênio muito se fala, muito se elogia. E Lyrio Panicali é um gênio, que pouco se fala, que pouco se elogia. Um homem que transmite poesia, beleza e técnica dentro de suas criações harmônicas. Só posso dizer que tudo nasce num som diferente dos acordes deste gênio que é Lyrio Panicali”, referendou Feitosa na contracapa do LP.
Enfatizando o frescor do “irresistível impulso modernista” de Panicali – frase expressa por Gilberto Miranda no verso de Nova Dimensão – o repertório do álbum trouxe releituras instrumentais extraídas da nata do cancioneiro bossanovista. Estão nele, entre os 12 temas, Consolação, de Badden Powell e Vinicius de Moraes, Batida Diferente, de Maurício Einhorn e Durval Ferreira, Balanço Zona Sul, de Tito Madi, Lobo Bobo, de Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli, e Deus Brasileiro, dos irmãos Paulo Sérgio e Marcos Valle.
Há quem insista também na tola teoria de que a bossa nova teve vida efêmera e que ela foi capitulada por consequência dos adventos da jovem guarda e do tropicalismo. Provando o contrário, álbuns como A Revolução e Nova Dimensão fizeram escola e resultaram em obras lançadas, nos anos seguintes, sob a batuta de outros grandes regentes como o primoroso O Som Espetacular da Orquestra de Carlos Piper (Continental, 1965), do regente argentino, e álbuns que se apropriavam de sucessos radiofônicos, exemplo de Big Parada, do trompetista Formiga e Sua Orquestra (Elenco, 1970), e Explosivo! (London, 1970), do maestro Nelsinho.

Por essas e outras, não somente hoje, no dia de seu aniversário, faz-se necessário preservar e reverenciar a memória desse maestro fundamental chamado Lyrio Panicali. Sobre ele, um certo Tom Jobim deu o seguinte depoimento, em 1963: “Este movimento atual que se vê na música popular brasileira deve muito a Lyrio Panicali. Não é de hoje que o meu querido maestro vem lutando pela evolução de nossa música popular. Entre seus muitos fãs havia um que se chamava Heitor Villa-Lobos. Lyrio põe muito amor em tudo que faz e por isso mesmo é muito procurado. Sempre foi um boa praça e me recebeu de braços abertos quando bati a sua porta em busca de ensinamentos. E, talvez por dar muito de si aos outros, recebeu esta graça: alma aberta ao que é novo e o talento necessário para ser Lyrio Panicali”
Boas audições e até a próxima Quintessência!
Originalmente publicado no site da revista Brasileiros em 26.6.2014
Ouça o álbum Nova Dimensão



![Kudzanai Chiurai Genesis [Je n'isi isi] III 2016 Pigment inks on premium satin photo paper Image: 130 x 140 cm; Paper 142.4 x 152.4 cm Edition of 10](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/KC_Genesis-III_0178_2016_MR-696x644.jpg)




![Material Educativo da 33a Bienal de São Paulo. 01/03/2018 © Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo Foto [Photo]: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo2-630x420.jpg)

![Descansa tu cabeza en mis brazos [Descanse sua cabeça em meus braços / Rest Your Head in my Arms], 1995 - Feliciano Centurión](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo3-398x420.jpg)
![At Will and the Other [À vontade e o outro], 1989](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo4-543x420.jpg)
![Generators [Geradores], 2014 - Wura-Natasha Ogunji.](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo5-399x420.jpg)
![Glömd [Forgotten / Esquecido], 2016. - Mamma Andersson](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo6-519x420.jpg)
![Foreigners [Estrangeiros], 2016 - Claudia Fontes](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo8-280x420.jpg)
![Pintura, Cérebro e Rosto [Painting, Brain, and Face], 2017 - Sofia Borges.](https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/05/33-bienal-sao-paulo7-629x420.jpg)