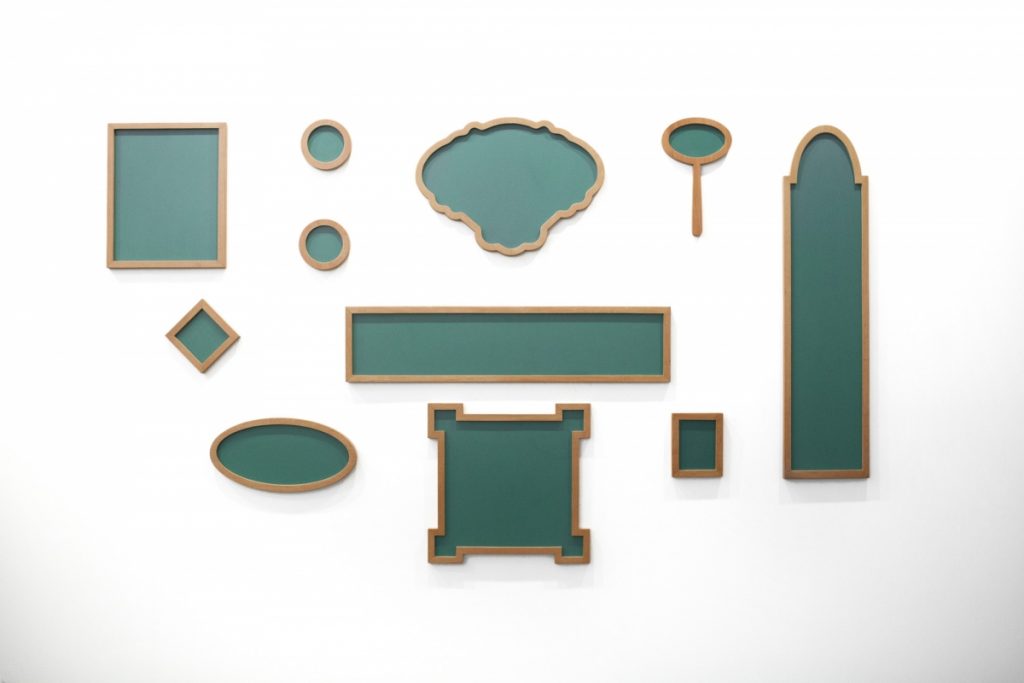A SP-Arte oferece pela sétima vez o Prêmio de Residência da SP-Arte. A premiação contempla um artista com estadia de três meses nas dependências da Delfina Foundation, em Londres, para um período de vivência e prática. Em 2019, o júri optou por escolher seis finalistas ao invés de apenas cinco. Isso se deve ao grande número de inscritos.
O júri, formado por membros da Delfina Fondation e da SP-Arte, escolheram como finalistas os seguintes nomes: Bruno Faria (Periscópio Arte Contemporânea), Daniel Lie (Casa Triângulo), Jaime Lauriano (Galeria Leme A/D), Leticia Ramos (Mendes Wood DM), Paul Setúbal (Andrea Rehder Arte Contemporânea) e Virginia de Medeiros (Galeria Nara Roesler). De acordo com a SP-Arte, a escolha se deu a partir de uma reflexão de qual artista mais poderia se beneficiar dessa experiência neste exato momento de sua carreira.
A Delfina Foundation é uma das organizações mais reconhecidas mundialmente por seus programas de residência artística. A instituição é independente e sem fins lucrativos, promovendo desde 2007 trocas e experiências transformadoras para aqueles que participam dela. Também são oferecidas pela organização programas de vivências para profissionais de criação e colecionadores, dentre outras atividades.
Desde 2017, o Prêmio de Residência SP-Arte passou a ter como gratificação a estadia na Delfina Foundation. A parceria entre as duas instituições já levou as artistas Alice Shintani e Laura Belém para Londres, vencedoras respectivamente das edições 2017 e 2018.
Para concorrer, os artistas devem ser representados por qualquer galeria que participe da SP-Arte e devem ser brasileiros, ou naturalizados. O vencedor será conhecido por todos no dia 4 de abril, quinta-feira, durante a SP-Arte. O júri percorrerá as galerias representantes dos seis finalistas e fará a escolha a partir de seus trabalhos que deverão estar expostos, obrigatoriamente, nos estandes.
Neste ano, a SP-Arte (Festival Internacional de Arte de São Paulo) acontecerá entre os dias 4 e 7 de abril, no Pavilhão da Bienal. No dia 3 de abril, convidados poderão participar do preview do evento.