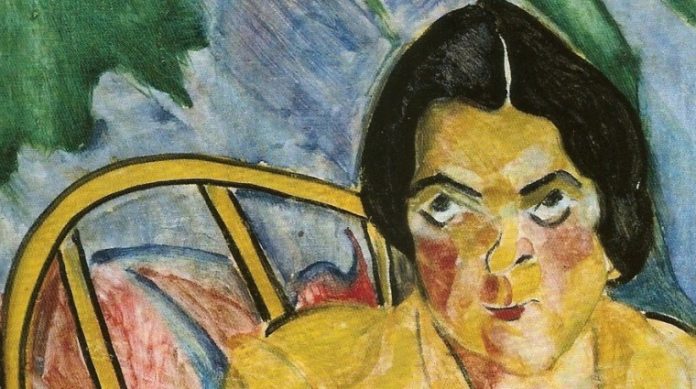Caso seríssimo o primeiro álbum solo de Jards Macalé. Marcado por parcerias com letristas insuspeitos – os poetas José Carlos Capinam, Torquato Neto, Duda Machado e Waly Salomão, e os compositores Luiz Melodia e Gilberto Gil – o biscoito fino, lançado pela Philips, em 1972, contou ainda com a participação de dois dos mais expressivos músicos da geração que modernizou a música popular do País na virada dos anos 1960 para a década de 1970: o baterista Tutty Moreno (marido da cantora Joyce, então casada com Nelson Ângelo) e o incendiário Lanny Gordin, que deixou o posto de guitar-hero da Tropicália para assumir violão e contrabaixo elétrico no LP.
Mas, antes de falarmos de Jards Macalé, como singelamente foi intitulado o début epônimo do compositor, façamos um breve retrospecto dos caminhos que levaram o artista carioca até este primeiro registro solo impregnado de brilhantismo e do ímpeto de “desafinar o coro dos contentes”.
Nascido na zona Norte, no bairro da Tijuca, em 3 de março de 1943, ele foi batizado Jards Anet da Silva. Aos 8 anos de idade, partiu com os pais e o irmão caçula, Roberto, para Ipanema. Na zona Sul logo ganhou o apelido, em alusão ao nome do pior jogador do clube do Botafogo, chacota que adotaria, depois, como sobrenome artístico.
Se nos campinhos de várzea o desempenho do menino Jards era pífio, digno de um Macalé, a vocação para craque da música popular aflorou desde cedo, por influência de dois amadores apaixonados por música: o pai, acordeonista, e a mãe, excelente pianista e cantora. Junto deles e do irmão, Macalé participava em casa de frequentes reuniões musicais embaladas ao som de foxes e valsas. Além dos gêneros de tradição estrangeira, o intruso samba, vindo do vizinho Morro do Formiga, também ia aos poucos fazendo a cabeça do garoto.
Na adolescência, a amizade com Chiquinho Araújo, filho do maestro Severino Araújo da Orquestra Tabajara, foi determinante para transformá-lo no aspirante a artista que se consolidaria nos anos 1970 – não sem muita turbulência, como veremos.
Ao lado de Chiquinho, Macalé teve acesso a espaços restritos da extinta Rádio Mayrink Veiga. Pôde, por exemplo, conferir de perto concertos regidos por Severino, muitos deles impregnados de maracatus, choros e frevos. Pôde também ter acesso a valiosos registros fonográficos de big-bands de jazz, como as de Billy Butterfield, Ted Heath e Stan Kenton.
Foi ao lado do chapa Chiquinho, baterista, e do amigo Jota, estudante de Engenharia e flautista, que Macalé, assumindo a faceta de violonista, formou seu primeiro grupo, chamado Três no Balanço. De vida efêmera, o trio deu lugar ao Conjunto Fantasia de Garoto. Pouco depois, na primeira metade dos anos 1960, ele decidiu mergulhar nas partituras: teve aulas de piano e orquestração com o maestro César Guerra-Peixe; de análise musical com Ester Scliar; de violoncelo com Peter Dauelsberg; e de violão com Turíbio Santos e Jodacil Damasceno.

A imersão fez de Macalé sujeito conhecido entre seus pares musicais de zona Sul. Em 1963, no Rio de Janeiro, ele conheceu Caetano Veloso, a quem chamava “Caio”. Sabendo da ebulição soteropolitana – na nascente cena musical daqueles dias despontavam artistas como Gil, Gal, Bethânia e Tom Zé – lamentou não ter podido seguir com Caetano no retorno deste à Bahia. Dois anos mais tarde, quando o “Grupo Baiano”, como bem definiu Augusto de Campos, se deslocou para o eixo RJ/SP, Macalé passou a assinar a direção musical dos primeiros shows cariocas de Bethânia.
Em 1966, municiado do conhecimento téorico recém-adquirido, começou a trabalhar para o produtor Guilherme Araújo, assinando a direção musical e tocando em shows na boate Cangaceiro. Um desses espetáculos, Pois É, foi escrito por Caetano e Suzana de Moraes e reuniu canções interpretadas por Vinicius de Moraes (pai de Suzana), Bethânia e Francis Hime, sob direção do ator Nelson Xavier. A despeito de tantos atrativos, Pois É não emplacou e Macalé embarcou, então, em um período transitório e instável, marcado pela audição compulsiva do jazz produzido entre as décadas de 1940 e 60 e uma imersão na discografia bossanovista, por influência da amiga Silvinha Telles.
Uma nova parceria artística, com José Carlos Capinam, renderia frutos mais generosos para o compositor. Ao lado do poeta baiano Macalé fundou a produtora Tropicarte e escreveu uma série de canções antológicas, como Pulsar e Quasars, incluída no álbum de 1969 de Gal Costa, o segundo trabalho solo da cantora, informalmente conhecido como Cultura e Civilização. Registrado no final do ano anterior, o explosivo álbum de Gal teve arranjos escritos pelo maestro tropicalista Rogério Duprat, que contou com o trabalho de Macalé, como assistente.
Pouco depois, acompanhado do grupo Os Brazões, de Miguel de Deus, Macalé protagonizou episódio embrionário para sua eterna pecha de “louco” e “maldito”: subiu no palco do IV Festival Internacional da Canção de 1969 para defender nova parceria com Capinam, a apocalíptica Gotham City. Longe de despertar a empatia do público – jovem, porém, conservador e patrulheiro de certo anti-imperialismo – Macalé foi alvo de uma histórica vaia e manifestação de repulsa.

“No sentindo do trabalho, era fantástico, agora, no sentido comercial, era muito violento. Não dava resultado. Rogério Duprat fez um arranjo que, no final, a orquestra tinha que ficar louca, completamente esquizofrênica. O maestro Tavares – que ia reger – ficou puto. Ele estava levando a sério, mas quando viu que a gente estava cantando aos berros, se recusou a reger. E quem acabou regendo foi o Erlon Chaves”, relembrou Macalé, em entrevista ao repórter Wilson Moheardui, da revista O Bondinho, em fevereiro de 1972.
Mesmo vaiado e hostilizado, inabalável, Jards seguiu rumo com um novo grupo, chamado Soma, que incluiu em sua formação um dos poucos divergentes da caretice da plateia do festival de 1969, o percussionista Naná Vasconcelos. Segundo Macalé, logo após a apresentação ele foi abordado por Naná com a seguinte frase: “Meu irmão, eu amo você. Posso entrar nessa?”. Ao que o compositor de Gotham City teria dito: “Você já está, rapaz!”.
A experiência Jards/Naná/Soma rendeu o belo compacto Só Morto/Burning Night, que também contém as composições Soluços, O Crime e Sem Essa. De tão rejeitado nas lojas – “Macalé, aquele louco? Não Quero, não!”, diziam os revendedores – o compositor preferiu ordenar a gravadora RGE que retirasse a obra de circulação. Censura mercadológica que colocou o artista em um longo sabático.
“O negócio era levar a um radicalismo total e passar para o outro lado, tanto em relação a minha música, como em relação ao que estava acontecendo. Dava o estouro logo. Mas aí, depois de Gotham City, eu ganhei uma antipatia incrível. Diziam que eu era louco. Passei dois anos sem nenhuma possibilidade. Nenhuma gravadora queria mais aceitar minha figura”, recordou Macalé na entrevista à O Bondinho.
Foi nesse contexto letárgico que, acompanhado da mulher Giselda, o compositor foi passar o carnaval de 1971 em Salvador, na companhia de Bethânia. Dias antes, ela recebera do irmão Caetano, então exilado em Londres, um recado urgente. O baiano queria que Macalé partisse imediatamente para a capital inglesa para assumir a direção musical de seu novo álbum. Lisonjeado com o convite, no entanto, sem recursos financeiros para aceitá-lo, Macalé mandou agradecer e voltou ao Rio. Uma semana depois do Carnaval veio a boa nova: Caetano arcaria com as despesas dele e de Giselda pois, segundo garantiu a Bethânia, só faria o álbum se fosse com Macalé no comando.
“A gente não tinha nem material para trabalhar. Era tudo improvisado: Caetano com o violão dele e eu com o meu para sustentar harmonicamente o dele. Houve uma grande transa. E não só no sentido musical, que ficou mais apurado. Em termos individuais, o meu enriquecimento foi muito grande. Assistia a tudo e ouvia muito o papo de Gil e Caetano. Aguentava toda a barra da relação de grupo, segurando as pontas pra manter o grupo unido.”
Foi assim, nesse ambiente descontraído, de criação gradativa, que nasceu aquele que é considerado por muitos a obra-prima da discografia de Caetano, o álbum Transa, concluído no Brasil logo após o baiano retornar do exílio, no início de 1972. Transa também tornou-se célebre por dois motivos. Um deles, pouco nobre: o rompimento da amizade entre Macalé e Caetano, porque o baiano propositalmente não teria creditado a direção musical do amigo no encarte do álbum (Caetano até hoje diz que foi um erro de impressão da Philips). Fato positivo: o álbum serviu de aquecimento para a trinca de ases Jards, Lanny e Tutty.
Ouça abaixo a caótica apresentação de Gotham City no FIC de 1969
A aproximação, o convívio regular e os intensos diálogos musicais permitiriam a Macalé entrar em estúdio, finalizar o trabalho e colocar no mercado seu primoroso álbum-solo, uma das estreias mais marcantes da geração de artistas de música popular que surgiu na segunda metade do século 20 no Brasil.
Com arranjos escritos por Macalé, Lanny e Tutty, o álbum reúne repertório cinco estrelas. Compostas a quatro mãos, com Capinam: Farinha do Desprezo, 78 rotações, Meu amor, Me Agarra e Geme e Treme e Chora e Mata e a emocionante Movimento dos Barcos. Escritas com Waly, Revendo Amigos e Mal Secreto. Única, porém memorável, parceria com Torquato: Let’s Play That. O álbum ainda reserva pérolas de Gil e Luiz Melodia: Farrapo Humano e A Morte. Fechando o repertório, Duda Machado assina “apenas” uma, a arrebatadora Hotel das Estrelas, revelada meses antes na interpretação pungente de Gal durante o show Fa-Tal – Gal A Todo Vapor, tema de nossa última coluna.
Apesar de o álbum ter propiciado uma maior compreensão sobre a obra de Macalé, ele continuou seguindo à margem, sem abrir concessões. Entre seus trabalhos mais significativos estão álbuns plenos da mesma energia e inventividade, como Aprender a Nadar (o segundo, de 1974), Contrastes (1977) e Let’s Play That (de 1983, este último foi feito em parceria com o amigo Naná Vasconcelos).
Em 1973, Macalé idealizou também um concerto em celebração aos 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O encontro resultou no álbum duplo O Banquete dos Mendigos e reuniu artistas como Paulinho da Vila, Milton Nascimento, Gal Costa, Edu Lobo, Chico Buarque, Raul Seixas, entre outros. Também obrigatória é a parceria entre Jards e o mestre Kid Morangueira, ou melhor, Moreira da Silva.
Boas audições e até a próxima Quintessência!
Originalmente publicado no site da revista Brasileiros em 10.4.2014
Ouça, na íntegra, o álbum Jards Macalé
MAIS
Leia a reportagem Diários de Macalé, uma imersão, ao longo de uma semana, no processo de produção do espetáculo Sinfonia de Jards, apresentado, em 2011, no Teatro Oficina, em São Paulo








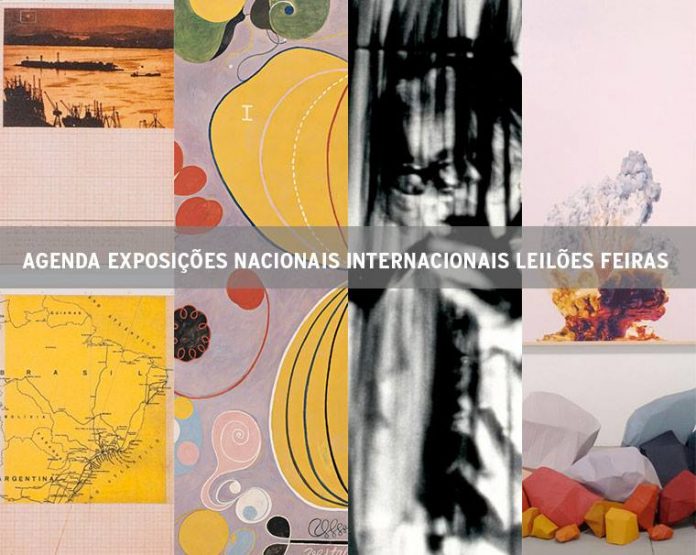

 Hilma af Klint, The Ten Largest, No. 7, Adulthood, Group IV, 1907.
Hilma af Klint, The Ten Largest, No. 7, Adulthood, Group IV, 1907.

 Amanda Mei, Encontro Marcado, 2017.
Amanda Mei, Encontro Marcado, 2017. Takesada Matsutani, Cercle, 2006.
Takesada Matsutani, Cercle, 2006. Diogo de Moraes, Dia-Dia, 2008
Diogo de Moraes, Dia-Dia, 2008