Por Tania Rivera*
Quando Paulo Herkenhoff, então diretor do MAR, me convidou para a curadoria da exposição que se chamaria Lugares da Loucura, preocupou-me o risco de este título reforçar a ideia de “loucura” como doença, como condição deficitária restrita a determinadas pessoas. Para relançar a questão com a arte, em um gesto político de suspensão de classificações excludentes e de reconhecimento do campo da “loucura” como uma complexa construção social, propus substituirmos o termo por delírio.
A curadoria levava-me, por esta via, a retomar algumas articulações teóricas fundamentais em minha trajetória. Foi a questão da psicose que me encaminhou de um doutorado em psicanálise para o estudo da arte, muitos anos atrás, em busca da caracterização de modos desviantes de construção do sujeito e da realidade. A noção de delírio foi muito importante nessa articulação, através da proposta de Freud de entendê-lo não como pensamento errôneo ou sintoma a ser eliminado, mas sim como reconstrução ativa da realidade por parte de alguém que a teria perdido devido a uma vivência de desestruturação grave. Delirar seria, neste sentido, um trabalho psíquico muito importante, que corresponde a uma tentativa de cura – e deve ser considerado, em minha opinião, como potência de criação de caminhos singulares na cultura.
Tal trabalho do delírio encontra portanto o campo da arte, que também propõe operações diversas de construção e transformação da realidade, convidando-nos a compartilhar novas configurações de sociedade, como explicita agudamente a produção artística mais recente. A intersecção entre “loucura” e arte deve hoje, portanto, ser tomada em chave política, afastando-nos das vias históricas de encontro entre elas no século XX pela idealização da primeira como “expressão” pura de um sujeito apartado da cultura (na ideia de “arte bruta” ou “outsider”) e na valorização da segunda como “terapêutica” nela mesma.
Mas como transmitir em uma exposição tais complexas elaborações conceituais? Como transformar tais ideias em uma proposta de experiência em dado espaço, com determinadas obras de arte? Esse era o desafio maior que Lugares do Delírio me colocava. Ele foi o guia, o ponto sensível, o problema que conduziu cada uma das ações curatoriais e levou-me a algumas elaborações que vou aqui rapidamente comentar.
A obra de Arthur Bispo do Rosário é, sem dúvida, aquela que mais diretamente evidencia a potência do delírio como reconstrução da realidade pela arte, e portanto, deveria ter lugar privilegiado na mostra. Mas como recortar sua obra infinita? De que forma se poderia ressaltar sua força de desvio e deriva, a presença movente do sujeito a refazer o mundo que nela se encarna? A resposta apresentou-se para mim de forma intuitiva, que só mais tarde desdobrou-se conceitualmente: diante de alguns trabalhos, no acervo do Museu Bispo do Rosário, decidi ter seus barcos como um dos eixos centrais da exposição, em torno do qual obras de outros artistas variados se espalhariam.
A escolha era um tanto delirante, talvez. Na seleção das demais obras de artistas variados, foram se apresentando muitos barcos, de forma surpreendente para mim, e eu os fui acolhendo. Inicialmente, como já disse, não havia justificativa teórica clara para a escolha das embarcações e durante a preparação da primeira versão da exposição, quando algum membro da equipe do Museu de Arte do Rio (MAR) me perguntava a razão de tantos barcos, eu respondia jocosamente que “no MAR… precisamos de barcos para não afundar”. Assim, eu tomava as palavras como coisas, como faz muitas vezes o delírio psicótico (e também a arte e a poesia). Apenas mais tarde, já na montagem da exposição, ficou patente a ligação dos barcos com a “nau dos loucos” na qual algumas cidades abandonavam seus loucos na Idade Média (como conta Foucault), assim como com a ideia de deriva (de Deleuze e Guattari) nos caminhos efêmeros e infinitos que o barco desenha na água, ou ainda a figura da jangada como frágil porém potente construção para aqueles que estão fora da linguagem, em Fernand Deligny.
O próprio conceito de delírio foi, assim, enriquecendo-se com esses objetos, recebendo novos predicados, outras articulações ao longo do trabalho curatorial concreto, do encontro com obras, artistas e o espaço expositivo. Em vez de consistir na aplicação de determinado conceito, a prática foi me levando a outras elaborações teóricas, em uma espécie de navegação sem trajeto predefinido, na qual o ponto de partida transforma-se a cada nova paragem.
O modo de disposição das obras no espaço foi o problema no qual o vai e vem entre prática e pensamento se desenvolveu mais fortemente. O desafio era claro e talvez fadado ao fracasso: como constituir uma “cena” delirante? Como fazer uma exposição que não fosse um discurso sobre o delírio, mas convidasse o público a experimentá-lo ativamente e de forma singular?

A primeira ideia que me ocorreu foi que os diferentes objetos e esculturas deveriam se mesclar e contaminar, recusando a diferença entre artistas famosos e pouco conhecidos, entre obras inseridas no circuito convencional e trabalhos oriundos de instituições psiquiátricas. A aceitação da diversidade que a exposição tenta defender se concretizaria, assim, materialmente. Além disso, o contato entre diferentes trabalhos poderia eventualmente incitar novos olhares sobre eles – e assim expor Bispo ao lado de Cildo Meireles poderia reforçar a força conceitual do primeiro, por exemplo.
Radicalizando essa proposta, decidi recusar os suportes que habitualmente isolam cada obra e a expõem como fora do mundo à sua volta: a parede ou painel cenográfico no qual se fixa um quadro, o pedestal no qual se posiciona uma escultura. Decidi dispor as obras penduradas no ar por finos cabos de aço, a flutuar na arquitetura circundante, ou posicioná-las, em geral em grupo, sobre bases frágeis – mesas de pernas tão finas quanto possível e de alturas variáveis, dispostas de forma ramificada e complexa, de tal maneira que não há trajeto preferencial predefinido e cada um deve errar entre elas, traçando seu próprio caminho.
Só depois de ter tomado tal decisão percebi que ela punha em ato uma hipótese muito interessante sobre o delírio: a ideia de que ele recusa a superfície neutra de representação sobre a qual se inscreve cada objeto, isolado dos demais, em sua relação com determinada palavra. Uma vez rechaçada tal base da representação, cujo modelo seria o da folha de papel em branco na qual se inscreve algo, o mundo apresenta-se como palimpsesto, como contaminação de objetos e escritas múltiplas a se combinarem segundo o olhar – a leitura – de cada um de nós. Surpreendeu-me, então, atentar para o fato de que também a história da arte é marcada por estratégias diversas de construção de tal superfície e, pelo menos desde o início do século XX, de sua destruição, na tentativa de levar a arte para fora da representação e fazê-la reencontrar a vida (pulsante) e o mundo (sempre problemático).
Aos poucos, me dei conta de outra faceta, ainda, implicada no projeto expográfico: tratava-se da tentativa de pôr as obras em instabilidade, ou mesmo em movimento, à maneira do que se dava nas celas-ateliê de Bispo do Rosário enquanto ele estava vivo: as diferentes peças eram reposicionadas e às vezes modificadas por ele em um jogo complexo que Frederico Morais qualificou de “barafunda”. Sua dinâmica interna torna arbitrária a própria delimitação de cada elemento como “obra”, problematizando radicalmente as condições tradicionais de exposição. Buscando ativar tal dimensão – que passei a considerar como uma das características fundamentais do delírio –, minha tentativa foi de pôr virtualmente em movimento as obras, na sucessão de pontos de
vista de cada espectador
a passear entre elas.
O convite do Sesc Pompeia para acolher uma nova versão de Lugares do Delírio permitiu que tal proposta expográfica se expandisse e radicalizasse graças a sua singular arquitetura, diametralmente oposta à estrutura do “cubo branco”. Nesse espaço de convivência amplo e aberto no qual nenhuma superfície é neutra, em suas paredes de tijolinhos, seu lago serpenteante (como à espera de barcos que viessem habitá-lo) e sua continuidade com a área onde brincam as crianças, Lugares do Delírio parece mover-se em várias direções, no desdobramento de cenas múltiplas – de perto ou de longe, em suas panorâmicas e em seus cantos –, redesenhando-se em cada trajeto de cada espectador, no exato instante em que seu olhar transforma algumas obras e, para além delas – quem sabe? – talvez venha a mudar algo no mundo.
*Tania Rivera psicanalista, pesquisadora e curadora



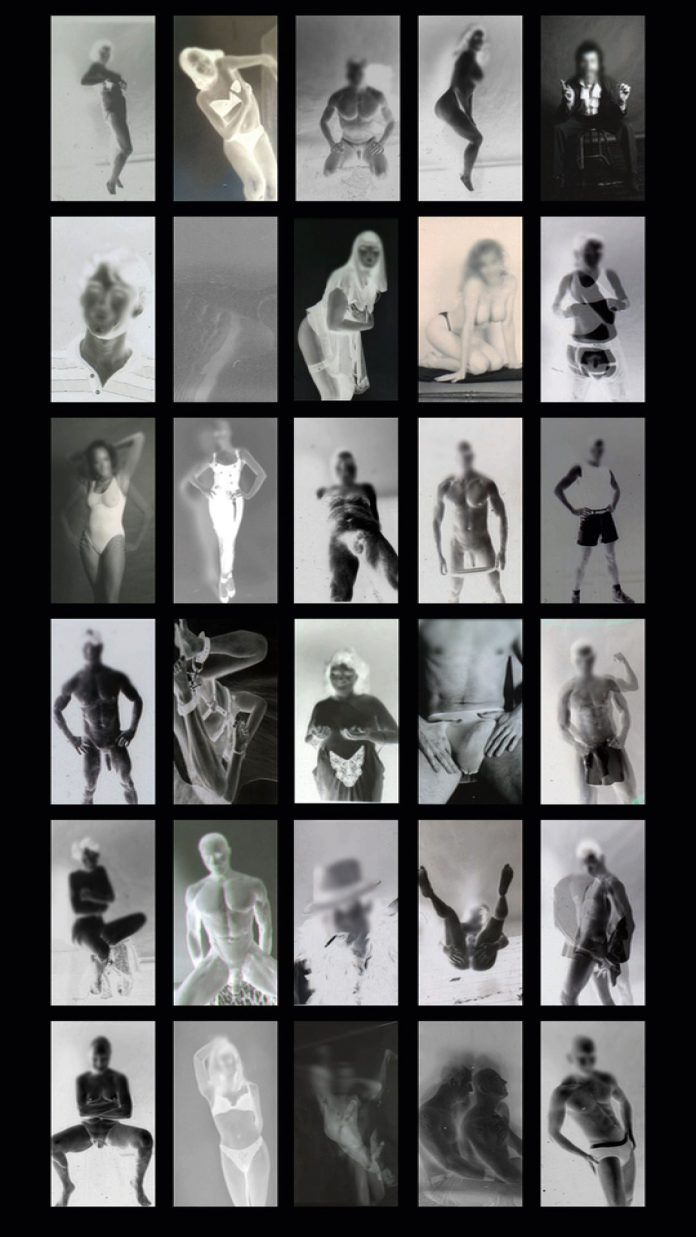













 Luiz Eduardo Soares (antropólogo, cientista político, escritor e professor da UERJ) escreveu em seu blog
Luiz Eduardo Soares (antropólogo, cientista político, escritor e professor da UERJ) escreveu em seu blog 







