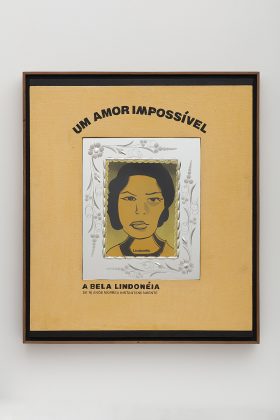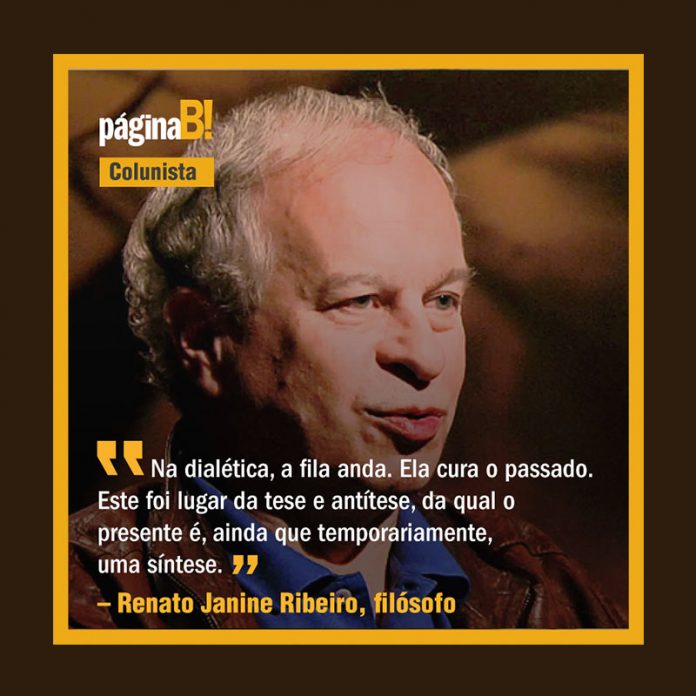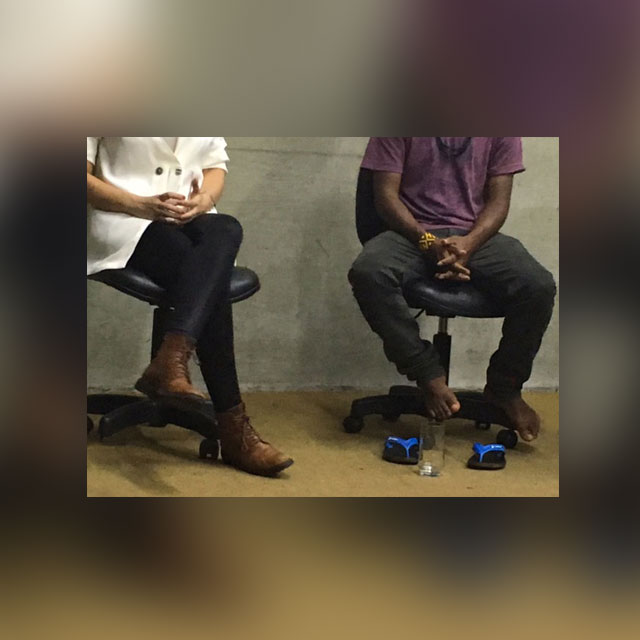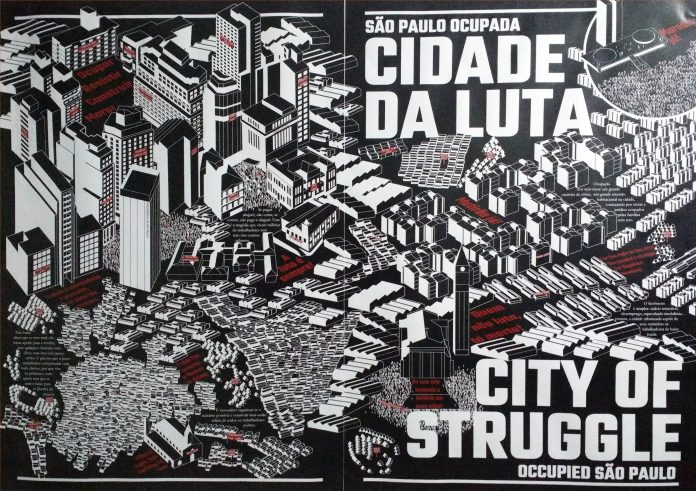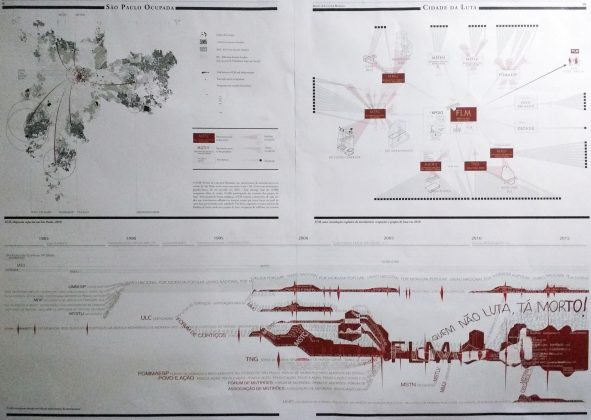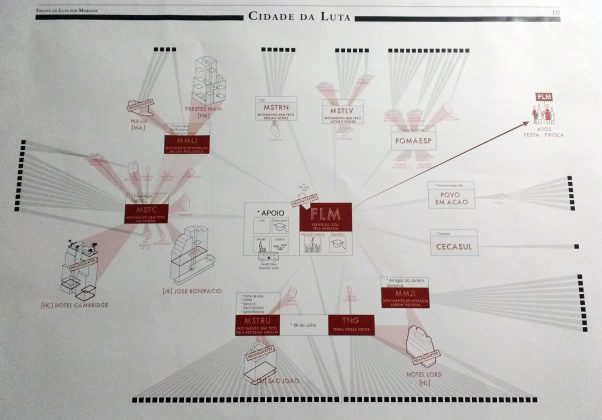*Por Helena Wolfenson
1968 foi o ano das revoltas estudantis estrondosas. Uma onda de gritos por liberdade varreu todo o planeta, com a mesma sincronia que o espantou. Sua maneira de ser, de existir e de se desmanchar no ar foi única; porém, como diz Caetano Veloso em depoimento ao jornalista Zuenir Ventura: “Para acontecer de novo, teria de ser muito diferente”. Em Paris, o movimento eclodiu porque a burocracia moralizante da Universidade de Nanterre proibiu a entrada de rapazes no alojamento feminino. Mas as razões de fundo que levaram às explosões juvenis em todo o mundo são até hoje estudadas e explicadas sob diversos pontos de vista.
No período pós-guerra, triplicou a densidade demográfica da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. O fenômeno dessa explosão populacional chamado baby boom criou, na virada da década de 1960 para 1970, uma juventude cuja profunda insatisfação moral e cultural veio à tona através de sua participação massiva nos movimentos revoltosos recém-nascidos. A impressão de que o status quo, hipocritamente, parecia estar evoluindo de vento em popa começou a se diluir. O PIB crescia, o poder aquisitivo também, e essa geração, dos chamados baby boomers, estava nas universidades, uma juventude três vezes maior do que a anterior, mais rica, contudo mais insatisfeita, descontente e inquieta.
Em 67 morreu Guevara, em 68 Luther King e Bobby Kennedy
Eram tempos de guerra no Vietnã, o primeiro conflito televisionado e que gerou uma profunda angústia entre os civis, principalmente os jovens e artistas. Ativistas políticos se propagavam pelo mundo, havia uma conscientização planetária da injustiça da guerra e de seus campos de batalha. Paralelamente, o conservadorismo de direita lutava contra as ações sociais e coletivas. No fim de 1967 houve o assassinato de Che Guevara, logo em abril de 1968 Martin Luther King, o líder carismático da causa negra, foi morto. Meses passados, e o então candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy, teve o mesmo destino de seu irmão mais velho, o ex-presidente John Kennedy, assassinado alguns anos antes, e o republicano Nixon foi reeleito. No fim do ano, o homem chegou à Lua.
Nos esportes, foi o ano das Olimpíadas do México, boicotadas em junho e que só ocorreram em outubro. As bandeiras feministas eram levantadas em todos os cantos. Na França, a imaginação juvenil buscava a tomada do poder. Jimi Hendrix, Beatles, Bob Dylan, pop art, tropicália… as artes se renovavam, se engajavam politicamente. Esse foi o chamado ano zero da globalização, a primeira vez em que se vislumbrou um cordão que interligaria Sul e Norte, Leste e Oeste, não por questões geográficas ou físicas, mas humanas e, acima de tudo, jovens.
Oriundos de todos os cantos do planeta, países com governos e culturas distintos se encontravam sob um denominador comum. Eram tempos de Guerra Fria, o moralismo, as estritas e burocráticas normas do mundo dividido causavam efeitos agonizantes na juventude daquele ciclo de prosperidade econômica. O mês de maio de 1968 estabeleceu-se como símbolo de uma época, uma luta essencialmente contra a autoridade, a paterna, em particular, e o modelo de família vigente até então. Seu legado permitiu o nascimento de milhares de novos canais de expressão nas artes, de novas formas de contestação social e de novos tipos de relações humanas.
Como nos grandes centros, alguns países da América Latina foram tomados pela efervescência inebriante de 1968, também fatídico para nós, brasileiros. Em dezembro foi promulgado o AI-5, que enterrou de vez o pouco que ainda restava de atividade democrática no País, jogando-nos num período de trevas, perseguições e censura durante quase duas décadas. Um pouco antes disso, sentindo os ventos libertadores da Europa, o Rio de Janeiro começou a demonstrar grandes articulações de massa, através de manifestações de rua.
A cidade chegou a parar por alguns dias, como na lendária Passeata dos 100 Mil. A impressão que se tinha era a de uma coletividade envolvida em uma só causa, que escapava do estereótipo do futebol e do Carnaval. No entanto, os que estavam realmente por dentro dessa movimentação eram uma minoria – atuante, barulhenta, que fazia estardalhaço e criava sem parar. Alguns de seus representantes, os que resistiram às prisões, às torturas, ao exílio e ao tempo, são hoje, em sua maioria, grandes nomes da cultura nacional, da política e da academia.
De emos a neo-hippies é o mesmo: falta ideologia
As ditaduras militares na América Latina se erguiam em nome da liberdade e contra o comunismo. Tinham como primeiro pretexto manter a segurança. Para proteger as sociedades do temido comunismo, impedia-se qualquer forma de oposição, das mais ingênuas às mais contundentes. Uma indignação latente e reprimida alastrava-se em vários campos da sociedade.
A juventude não tinha espaço para a expressão política, a cultura encontrava os seus canais fechados pelo sistema burocrático e corporativista da esquerda e da direita. Há quem diga que o mundo se libertou de normas rígidas e que a juventude passou a ser reconhecida e ouvida. Outros crêem que seu legado gerou uma despolitização nas gerações seguintes. As tão sonhadas e inovadoras formas de expressão já foram absorvidas pelo sistema. A sociedade não se libertou da angústia e do mal-estar de então. Houve uma sucatização do ensino. Os milhares de grupos adolescentes de hoje, que buscam sua identidade na mercadoria, de emos a neo-hippies, todos padecem do mesmo vazio: a falta de ideologia.
Enxergar esse momento através de pessoas e não de documentos foi uma escolha. Os jovens de então, que não acreditavam em ninguém com mais de 30 anos, hoje ultrapassam os 60. Se esse foi o período da história da humanidade em que a juventude encontrou seu lugar, participou e absorveu mudanças que ainda desabrochavam, como será que aqueles que contribuíram com a história estão hoje? O que pensam? Como enxergam a juventude atual? Como construíram suas vidas a partir desse rompante?
Mexer com a memória, penetrar nessa história foi a nossa busca ao fazer esta reportagem. Entrevistamos cinco personagens que, de formas diferentes, em locais diversos, absorveram a força dessa energia no ano de 1968. Pessoas que hoje estão entre os 60 e os 70 anos e na época se indignavam com uma sociedade que consideravam injusta e hipócrita, e que, vista sob aquela ótica, assim permanece. A memória e a história se confundem nas mentes desses vividos adultos. Enxergar a história partindo de olhares subjetivos, tentar ver o mundo da forma como foi visto por eles e, finalmente, o que ficou daquele mês, ano ou década foi o que encontramos nos relatos feitos por nossos protagonistas.
Paris, maio, ano de 1968, o estudante de economia da Escola de Lausanne, na Suíça, Ladislau Dowbor, aos 27 anos de idade, passava uns dias na “Cidade Luz” para visitar amigos. Dias que acabaram virando meses, tamanha a efervescência das ruas parisienses. Seu relato é um olhar de quem teve o privilégio de presenciar a força do movimento ali, no seu momento histórico. A abrangência e as conseqüências desse movimento foram inesperadas, e a França em particular foi um estopim importante em todo o processo. “Alguém precisa pôr o fogo no estopim e isso se dá em Paris na forma de manifestações estudantis”, como testemunhou Dowbor.
Estavam em andamento alguns movimentos de contestação em relação à educação, outros em relação à Guerra do Vietnã. O processo de descolonização de algumas regiões da África também estava em curso. A compreensão da injusta e profunda interligação das economias do Primeiro e do Terceiro Mundo, uma como causa da outra, se iniciara. A esquerda também buscava uma renovação nos seus canais de expressão e uma alternativa que fugisse aos moldes antigos da política partidária burocrática e sindical. Esse era o pano de fundo do quadro vivido pela juventude universitária, não só na França, mas também na Itália e na Alemanha. Já a juventude norte-americana vivia às voltas com a Guerra do Vietnã. “Foi como jogar uma pedra em um lago e ver suas ondas se espalharem.”
Seu carro era um dos únicos que andavam no Quartier Latin
Um jovem alemão residente na França, Daniel Cohn-Bendit, era o líder do movimento francês. “Daniel, o vermelho”, como era chamado por seus seguidores e por toda a mídia (por conta de seus cabelos ruivos), guardava em si duas características marcantes da geração de 1968 e também o seu legado: a língua afiada e um forte destemor frente às autoridades.
As primeiras manifestações nas universidades parisienses eram muito focalizadas em reivindicações da esfera estudantil, mas a resposta do governo francês foi de extrema violência. Conduta que se revelou de uma burrice tática, pois fez o movimento crescer e tomar todas as universidades da capital. Foi uma reação em cadeia, que causou também a união de outros setores da sociedade contra a repressão. O tiro saiu pela culatra. “Todas as universidades fecharam. A polícia tomou as ruas, a repressão se instalou. Pela primeira vez houve uma coalizão entre líderes estudantis e de sindicatos. Houve uma paralisação geral da cidade, os transportes públicos não funcionaram, os distribuidores de gasolina pararam, as escolas fecharam suas portas. Criou-se um movimento de férias nacionais e foi se instaurando um medo generalizado nas camadas não-organizadas da população.”
Como Ladislau estudava na Suíça e havia ido a Paris de carro, um Citroën Deux Chevaux, com o tanque cheio, ao final de três dias de paralisação o seu era um dos poucos carros que andavam pelas ruas do Quartier Latin. O clima era inebriante, Ladislau não conseguia ir embora, começou a participar das muitas reuniões que se organizavam por quarteirões. Todos, por não irem ao trabalho ou à universidade, estavam nas ruas, nas casas, nas esquinas, se encontrando, discutindo, criando frases, pensando em propostas sonhadoras para um mundo diferente. Colocavam- se papéis e frases nas paredes, todos participavam escrevendo: “Era como se descobríssemos que era legítimo ter sentimentos que iam além da busca organizada e disciplinada de alguns porcentuais de aumento do PIB. O movimento tornou-se extremamente amplo e o vento de liberdade que soprava era enorme, as pessoas estavam felizes e criando nas ruas”.
O povo ocupou as ruas e praças. Os dizeres das paredes tornaram-se símbolos mundiais, saíram das universidades, atravessaram oceanos, conclamando o poder do amor, da juventude, escancarando a hipocrisia do sistema e das autoridades repressoras. “De Paris a Woodstock – chegou até a abrir algumas frestas de luz na ditadura então vigente no Brasil”, conclui o economista. O movimento perdurou por algumas semanas, até que, como era de se esperar, a polícia e o Exército o sufocaram.
O presidente francês Charles De Gaulle se uniu ao então primeiro-ministro alemão e voltaram a colocar a polícia para reprimir, mas agora em uma ação muito mais organizada e sistemática do que a primeira. Dissolveram o movimento através de prisões seletivas dos líderes estudantis; Daniel Cohn-Bendit foi expulso do país e voltou para a Alemanha; criou-se uma campanha televisiva massiva, chamando os trabalhadores de volta ao batente, ameaçando-os de demissão.
O sentimento que ficou cravado na mente de muitos daqueles jovens que viveram o Maio de 68 francês, e na memória do economista Dowbor particularmente, foi extremamente poderoso, pois, por um instante, foi possível perceber o que era gozar a vida sem portas, sem barreiras burocráticas, sem horários nem fórmulas. Foi um pulso criativo para uma geração desorientada. A herança desse tempo é muito mais de ordem comportamental do que da esfera política. Para aquela geração, o que estava na mesa eram as contundentes transformações do ponto de vista moral e cultural, que remodelaram as relações humanas – entre professores e alunos, autoridades e população, homens e mulheres, pais e filhos, vizinhos.
Todos os movimentos libertários, como o da liberdade sexual, feminista, gay, ecológico, o fortalecimento do movimento negro e a expansão de correntes artísticas como a pop art e o tropicalismo, entre outros, seguramente se alimentaram dessa ruptura. “Foi um basta para toda aquela geração que nos dizia: calem as bocas, vocês têm televisão, carro e geladeira, querem mais o quê?”, afirma Ladislau.
Depois de dois meses no Brasil, foi preso como comunista
A geração 68 buscava coerência nas ações, procurava entender o mundo a partir de outro viés. As autoridades impunham à população um leque de ordens a ser seguidas para evitar o caos, mas, quando tais ordens foram descumpridas, o que se viu foi a criação livre, a harmonia, não o caos. Como diz Dowbor: “Sabíamos onde estava o mal, mas não onde estava o bem. Por polarização natural, apoiávamos o comunismo, mas era por um nivelamento artificial do antiamericanismo”.
Em Paris, Ladislau, um polonês nascido na França, começou a ter contato com algumas organizações da esquerda brasileira, país onde cresceu e se radicou, e decidiu voltar ao Brasil e partir para a luta. “Eu, que financiava os meus estudos trabalhando nos trens noturnos internacionais, aproveitava as escalas em Paris para participar das reuniões. A opção da luta armada não me parecia apresentar mistérios, estava no ar, todos conheciam bem a resistência vietnamita, a Revolução Cubana, a guerrilha de Angola, de Moçambique, de Bissau… Fazia parte das opções. Pessoalmente, não me julgava capaz de definir grande coisa, pela própria idade e insuficiência de cultura política, e, quando as pessoas com quem convivia em Paris, com outro nível de experiência, me chamaram, fiz as malas e fui.”
Depois de dois meses no Brasil ele foi preso, tido como terrorista e comunista. Depois de uma semana estava solto, era antes do AI-5. “De certa forma, as próprias torturas justificavam a nossa luta armada, como os policiais e os militares justificariam a tortura com o fato de estarmos armados. Nos processos de polarização, o culpado é sempre o outro”, argumenta o ex-guerrilheiro.
Depois de 1968, Ladislau entrou nas organizações clandestinas de esquerda Vanguarda Popular Revoluconária (VPR) e Vanguarda Armada Revolucionária (VAR-Palmares). Foi preso, torturado e exilado. Hoje é professor titular no departamento de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), nas áreas de economia e administração.
Primeiro chegam os cães, depois os gatos, todos dando as boas-vindas no “Lar Dulce Lar”, como ela mesma gosta de chamar a sua casa em Cunha, na Serra do Mar, entre a praia e o campo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre Ubatuba e Parati. Com cheiro de madeira, livros, revistas, discos, cerâmicas e muita vida espalhada por todos os cantos. A espaçosa e aconchegante casa foi construída por Dulce Maia de Souza há três anos, depois que ela se mudou de um sítio na mesma região. Basta um passeio no jardim e já se pode notar que a senhora de olhar profundo e cabeleira toda branca tem um vício: as árvores, plantas e flores.
Desde que se mudou para essa casa em Cunha, já plantou mais de 6 mil pés de árvore dentro e fora de seu terreno. “Quando voltei ao Brasil, depois dos anos de exílio, me mudei para Floripa, porque queria viver perto da praia.” Lá conseguiu refazer sua vida pós-exílio, ganhou algum dinheiro vendendo por 300 mil dólares os terrenos que comprara por apenas poucos mil. “Alguma coisa está muito errada neste país, não?”, indaga Dulce, que procurou outro rumo depois que a especulação imobiliária se instalou na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, capital de Santa Catarina.
Ela chegou a Cunha há exatos 15 anos, e nunca mais saiu. Conhecida por todos na cidade, hoje a ex-guerrilheira da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) é diretora de uma ONG para projetos de proteção da flora e da fauna brasileira na Serra da Bocaina, a Econsenso, e fundadora de outra na cidadezinha onde vive.
Atéia por convicção, ela diz que sua religião é a solidariedade
Aos 70 anos, ela não pára, sobe e desce escadas, vai e volta da cidade com o seu conservado jipe preto, está sempre viajando a trabalho, recebe amigos e cuida da casa em que vive com um de seus dois filhos adotivos, o mais novo, Isaías, de 20 anos. Dulce diz que a tortura a deixou com a cabeça meio ruim e, por isso, prefere se cercar de gente, de vida, “para não pensar muito nas suas cicatrizes”. A política está presente até em suas veias, raízes e fios brancos de cabelo.
Atéia por convicção, Dulce Maia diz que sua religião é a solidariedade. Seus santos são Che Guevara, Ho Chi Minh (líder e herói da luta antiamericana no ex-Vietnã do Norte) e Amílcar Cabral (líder do movimento que derrubou o colonialismo português na Guiné-Bissau e em Cabo Verde). Em 1966, Judith – codinome pelo qual ela se identificava entre os companheiros de luta clandestina – entrou para o grupo de guerrilha urbana VPR, uma organização da ultra-esquerda brasileira que, como muitas outras na época da ditadura, acreditava na mudança com base na luta armada. Formada por estudantes, operários e ex-militares que compunham o recém-deposto governo João Goulart, a organização tinha em sua liderança Carlos Lamarca, o ex-capitão do Exército morto anos depois pela repressão.
Nessa mesma época, ainda como Dulce, ela perambulava entre São Paulo e Rio de Janeiro enquanto produzia shows e encontros culturais, principalmente no Teatro Maria Della Costa. “Trabalhávamos em forma de cooperativa, cada um ajudava com o que sabia e podia, o Ricardo Ohtake (hoje diretor do Instituto Tomie Ohtake) fazia os cartazes, Gil, Vandré e Chico Buarque tocavam e cantavam para fazer com que a venda de ingressos dos shows fosse revertida para mantermos muitos companheiros na clandestinidade.”
Muito amiga do artista plástico Zé Roberto Aguilar e do cantor e compositor Jorge Mautner, era chamada pelos amigos de “sacerdotisa do kaos”, uma espécie de brincadeira com o livro e pseudomovimento que Mautner inaugurara na época. “Éramos de uma confraria, digamos assim.” A guerrilha foi um caminho natural para ela, talvez por conta de sua formação, vinda de uma família politizada, humanista e libertária, pais socialistas – sua mãe havia sido presa durante a ditadura de Vargas -, ou pela situação em si, pelo meio em que vivia, como ela mesma aponta. “Eu nunca tive medo de pegar em armas, porque havia muita confiança, amor e crença na autenticidade dessa luta. Acho que se não tivéssemos feito isso haveria um vazio na história de nosso país em relação ao resto do mundo.”
Fez ponta em O Bandido da Luz Vermelha como uma marchadeira
No ano de 1968 ela se dividia entre Rio e São Paulo. Sempre atuante, envolvida com o trabalho do dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa e toda a turma do Teatro Oficina, Dulce ainda era guerrilheira da VPR, mas esse fato não era uma informação pública, pois seguia as estritas normas de segurança das organizações militantes.
Nem todos conheciam Judith. Para a maioria, ela era apenas Dulce. Uma mulher de 30 anos, bonita e elegante. Ninguém suspeitaria que andava com uma arma na bolsa. “Esse foi um ano cheio de ações de luta armada. Mas foi também o ano de Roda Viva (peça escrita por Chico Buarque e produzida por ela, com direção de Zé Celso e cenário e figurino realizados pelo artista plástico e cenógrafo Flávio Império). Foi o ano da inauguração da sede do Masp na Avenida Paulista, das reuniões com os companheiros de luta na Casa de Vidro da Lina ( a arquiteta que projetou o Masp, Lina Bo Bardi), no Morumbi. Foi a estréia do filme inaugural do cinema marginal, O Bandido da Luz Vermelha, do cineasta Rogério Sganzerla, em que fiz até uma ponta como uma marchadeira (como ficaram conhecidas as mulheres que participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade). Teve o Caetano com o show Opinião, as montagens teatrais como Arena Conta Zumbi e Liberdade, Liberdade, e finalmente o cinema revolucionário de Glauber Rocha, com Terra em Transe, que foi um marco revolucionário para a época.”
Foi o ano em que a peça O Rei da Vela, também montada pelo Oficina, foi apresentada em Florença, na Itália, e convidada para o Festival de Nancy, na França: era a exportação do movimento tropicalista para terras estrangeiras. Exatamente no mês de maio de 1968, Dulce estava no Rio de Janeiro e recebeu um telefonema de Zé Celso, seu grande amigo, pedindo para que ela fosse buscá-lo no Aeroporto de Viracopos. “Eu havia ficado no Brasil porque tinha de cuidar do Teatro Oficina.”
Zé Celso estava em Paris e assistiu da sacada do prédio à cena de o cineasta Jean-Luc Godard, com quem estava filmando, ser espancado pela polícia. Sua solidariedade espontânea fez com que, do primeiro andar, arremessasse objetos na polícia, que respondeu com uma bomba de gás lacrimogêneo. Zé Celso voltou para o Brasil com um tampão nos olhos, assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o movimento francês.
Logo após sua chegada, militantes brasileiros que estavam em Paris, organizados pelos movimentos daqui, vinham desembarcando e importando os sopros de liberdade e de contestação que envolviam a França de então. As ações de rua no Brasil tomaram forma semelhante à das parisienses, mas com a enorme diferença de que aqui havia uma ditadura militar.
Dulce foi presa em janeiro de 1969, época em que guardava (escondia) muita gente em aparelhos (esconderijos, na linguagem das organizações clandestinas) espalhados pela cidade, transportava pessoas com cortina nos carros e vendas nos olhos. Conta que no dia de sua prisão havia desmontado alguns desses aparelhos e voltava para a casa dos pais, no Brooklin, bairro da capital paulista. Já era meia-noite quando invadiram a casa. “Minha mãe ficou em pânico, contou-me que foi como ver o meu caixão saindo, avançou e agrediu um policial para tentar impedir que me levassem.”
Foi durante o tempo em que ficou presa, de janeiro de 1969 a junho de 1970, que Dulce Maia perdeu a mãe. Madre Assunção, diretora da prisão, telefonou ao juiz auditor pedindo autorização para que ela fosse ao enterro. Mas o pedido foi negado. “Não fugiria em uma situação dessas, pois esses gestos humanos devem ser reconhecidos.” Dulce tinha certeza de que não morreria na Penitenciária Feminina, no Carandiru. “Eu não vou morrer aqui, vocês são todos parte de uma engrenagem podre, eu, ao menos, tenho uma causa”, dizia aos seus torturadores. Resistiu como ela mesma nunca imaginara ser capaz. Foi torturada constantemente por cinco meses. “Os militares já não me agüentavam mais, tinham raiva de mim pela minha situação ali, por resistir, por ser mulher”, revela Dulce. Acabou sendo libertada em troca do embaixador alemão seqüestrado no Rio de Janeiro.
As seqüelas dificultaram seu retorno à vida normal
Em junho de 1970, junto com outras presas, saiu da cela diretamente para um avião militar, ainda algemada, e voou para a Argélia, país recém-libertado do colonialismo francês. Seus cabelos ficaram brancos repentinamente, após algumas sessões de tortura. Passou por coisas horríveis, desaprendeu a falar e a escrever, teve de recomeçar sua vida em lugares distantes e muito debilitada.
Depois da Argélia seguiu para Cuba, em busca de tratamento médico. Em 1973, estava no Chile, quando Pinochet derrubou Allende. Foi, então, para o México e depois para a Bélgica. Lá ficou até abril de 1975, quando aterrissou em Lisboa, onde a ditadura cinqüentenária de Salazar havia caído. O último destino de Dulce antes da volta ao Brasil foi a Guiné-Bissau, país que conseguiu a independência do colonialismo português após a queda de Salazar. Em 1979, com a Lei da Anistia, foi a primeira exilada a retornar ao País.
Após nove anos de exílio, Dulce chegou ainda trêmula e frágil. As seqüelas da tortura dificultaram seu retorno à vida cotidiana. Apesar de no exílio ter criado vínculos fortíssimos com pessoas que conheceu, amigos queridos com os quais mantém relações até hoje, também passou por maus bocados. Ainda tem seqüelas, mas assume se cuidar muito. “Sou uma articuladora, mas não sou uma pessoa articulada.”
Dulce se vê como uma humanista que lutou contra um regime de exceção, e diz: “Contribuímos muito para a volta da democracia, mas hoje um movimento assim não teria sentido. A luta deve continuar, mas talvez a fórmula atual seja cada um no seu setor, podendo contribuir para que haja mudança, em seu exercício cotidiano.”
Hoje, além de cuidar das duas ONGs de preservação e educação socioambiental, ainda colhe frutos do difícil mas precioso período que viveu intensamente. A boa relação que mantém com algumas entidades internacionais e amigos que fez durante o exílio, por exemplo, abriram as portas para que conseguisse enviar mais de dez jovens de Cunha para estudar medicina em Cuba, reconhecida pela excelência de seus cursos. Em alguns momentos, como qualquer pessoa, questiona a vida que viveu. E lembra da conversa que teve com um amigo e companheiro de luta, em Paris, quando desejou ter sido uma dona Maria lá da Mooca, que passa a manhã lavando a calçada e depois prepara a macarronada para sua enorme família. O amigo pensou em como teria sido a vida se fosse um bancário. Mas, ao final, ela admite: “Nossas vidas são emocionantes até hoje”.
Aos 70 anos, se orgulha de seu passado. Não é, e nunca seria, uma matrona acomodada. Irmã de Carlito e Hugo Maia, dois importantes nomes do jornalismo e da publicidade brasileiros, Dulce sempre teve a comunicação no sangue e, apesar de não ser uma comunicóloga por profissão, vive de se comunicar. Dona de uma memória impecável, ela carrega na cabeça um emaranhado de fios capaz de ligar todos a qualquer um. E qualquer um a todos.
Ao relembrar aqueles tempos de tortura, mas também de muitas realizações, criações e laços fortes, ela, que se encaixaria nos grandes perfis de heroínas do século XX, que como mulher independente e lutadora sofria preconceitos e repressões, diz não sentir um peso na memória, pois esse é um passado ainda presente em suas lembranças, relações e conversas diárias. Dulce se diz excessivamente otimista em relação ao mundo e ao ser humano. Ainda sonha com a transformação social. Sobre a atual conjuntura política não se sente comprometida com nenhuma bandeira, movimento ou partido. “Não é só porque sou de esquerda que irei apoiar cegamente qualquer um.”
Para ela, a esquerda ainda resiste maniqueísta, sectária e moralista, e o povo brasileiro ainda se mostra covarde, acomodado e estranho. “A política hoje é promíscua”, afirma, ao mesmo tempo em que não avança em seu radicalismo, sempre ponderando que houve evoluções em termos da democracia tanto no governo FHC quanto está havendo no de Lula. “Não somos vítimas nem heróis de uma época. De nada me arrependo.” A luta de Dulce e de muitos outros pode ter sido feita com exageros e com excessos, muitas vezes inevitáveis frente às circunstâncias, mas foi uma luta carregada de paixão e de compromisso.
Arquiteto e designer, Luciano Devià é daquelas figuras que durante a juventude abriram a cabeça e descobriram um mundo mais real do que o transmitido nas antigas salas de madeira – semicirculares e inclinadas – das sisudas universidades renascentistas da Itália, sua terra natal. Desiludiu-se com as estruturas da sociedade, lutou, levantou bandeiras, foi barbudo e cabeludo, descobriu que como arquiteto ele só conseguiria produzir com algum engajamento político. Frustrou-se com as poucas mudanças atingidas e partiu para bem longe. Saiu de Torino, na Itália, aos 33 anos, em 1975, em busca de outra vida, de renascer em terras completamente desconhecidas.
A não ser pelas canções de João Gilberto, pelo piano de Tom Jobim, pelos traços de Oscar Niemeyer e pelas ousadias cinematográficas de Glauber Rocha, o Brasil, para ele, era um ilustre desconhecido. Eram terras distantes, quentes, tidas como promissoras e completamente desligadas de sua vida italiana. “No Brasil morri e nasci de novo e me encontrei completamente perdido como Dante Alighieri quando encontrou o inferno.” Ao chegar, não tinha dinheiro no bolso e passou a ganhar a vida com o que era, na Itália, o seu hobby: virou pianista na noite de São Paulo.
Era natural a aliança entre operários e estudantes
Para ele, o ano de 1968 foi o marco simbólico daquela busca por mudança e de desapego às raízes. Foi o ápice da crise de insatisfação contra a antiquada estrutura de educação universitária italiana – Luciano estava no quarto ano da Faculdade de Arquitetura do Politécnico di Torino, uma das primeiras escolas de arquitetura construídas durante o fascismo.
Para os jovens estudantes aquele foi o ano em que começaram a enfrentar as rígidas estruturas estabelecidas. Eram tempos de contestação pelo mundo todo, de uma nova forma de expressão. Tempos de Bob Dylan, de Woodstock e dos Beatles. Mas para Luciano Devià tudo isso estava bem mais distante do que o que acontecia ali ao lado: os operários com excesso de carga horária, explorados ali mesmo em sua cidade, na Fabbrica Italiana di Automobili Torino, a Fiat.
A fusão da indignação estudantil com o movimento operário era a ordem natural das coisas naquela cidade industrial. Tentava-se preencher o vazio que havia entre esses dois mundos tão próximos e, ao mesmo tempo, tão incomunicáveis. Enquanto Devià e seus colegas começavam a questionar o sentido que havia em produzir uma arquitetura que não se relacionava com o social, com o político, com o real, os migrantes do sul da Itália instalados nas cidades do norte trabalhavam como robôs nas fábricas e ainda eram vítimas de preconceitos regionais.
Esses fatos não eram discutidos dentro do ambiente acadêmico. “Os programas universitários eram cuidadosamente elaborados para que não houvesse tempo de pensar em questões como essas”, explica Devià. “Até os 24 anos eu era um alienado, nunca havia me questionado sobre a importância da política.” As contestações chegaram alfinetando a ele e a toda a sua geração. Torino não é uma Roma, muito menos uma Paris. Até 1968 a universidade continuava sendo uma ilha intocada diante das mudanças que estavam em curso nos outros centros. “Ainda íamos de gravata-borboleta para a faculdade”, o que era um símbolo da profunda austeridade e da hierarquia, até aquele momento, inquestionável.
Depois de tanto tempo ele se mantém fiel àquelas premissas
Em 1968, começava então o movimento de ocupação das universidades italianas, e passou-se um ano inteiro praticamente sem aulas, um ano de discussões, encontros, reuniões, assembléias, nos quais os estudantes, professores e operários de Torino se mobilizaram. O poder do dinheiro, algo conclamado pelos pais dessa geração, estava sendo questionado em nome de coisas mais importantes, como as relações humanas e o amor. “Descobríamos ali o mal que o dinheiro poderia causar, como diria Caetano Veloso, ‘era a força da grana que ergue e destrói coisas belas’.”
Mais tarde, em 1969, um grupo de estudos do qual Luciano fazia parte passou por um concurso público para a construção de um novo hospital psiquiátrico, na cidade de Bérgamo. Começava a se questionar na Itália o papel dos hospitais psiquiátricos e Luciano entrou de cabeça nessa questão. “Chegamos a abrir as portas de hospitais psiquiátricos e a fazer passeatas pela cidade, junto com os ‘loucos’, reivindicando tratamentos mais humanos.”
Foi o estopim que desencadeou a consciência nos estudantes de arquitetura de que nunca teriam resolvido o real problema dos doentes mentais propondo um belíssimo e novo hospital. Era necessário levá-lo como um problema político. “Nesse período, do ponto de vista da nossa formação humana, houve uma revolução. Abrimos as nossas cabeças ali no provincianismo de Torino.” Passeatas, salas de aula fechadas e cabeças abertas. Mudanças eram necessárias para seguir. As gravatas-borboletas foram substituídas pelas golas rulês, moda no movimento estudantil europeu, e o questionamento do mundo virou parte do ambiente acadêmico.
“Vivi aos 24 anos a magia de descobrir um mundo diferente e possível. Aprendi que só se podia resolver as coisas a partir de um pressuposto político.” No entanto, passado o fervor desse rompante, a vida começou a tomar os seus velhos trilhos, embora algumas partes tenham descarrilado das antiquadas linhas.
A efervescência estudantil se abrandou, alguns professores tidos antes como “imortais” deixaram suas cátedras, a grade curricular se adaptou em partes às reivindicações estudantis, a política psiquiátrica foi repensada e reformulada. Alguns preconceitos foram rompidos, e percebeu-se principalmente o poder e a ingenuidade dessa juventude. “Tudo era muito bonito e ingênuo, tinha-se a impressão de que realmente podíamos mudar o mundo. Existia uma ingenuidade ao pensar que todo rico na Itália era filho-da-puta, e que todo cara de esquerda era bom caráter.
Muitas vezes não se contratava um marceneiro ‘bravissimo’ (muito bom) por ele acreditar em Mussolini – esses extremismos e sectarismo que hoje não existem mais.” Hoje Luciano se decepciona com o rumo que muitos dos seus colegas de faculdade em 1968 tomaram. “Muitos dos líderes estudantis de então acabaram ligados a partidos mafiosos, à corrupção. Foi uma desilusão.” O ciclo continua.
Devià tem hoje 64 anos, trabalha como designer e arquiteto, se instalou em São Paulo e, depois de 40 anos passados, se mantém fiel às premissas daqueles anos rebeldes. Enxerga a força que teve essa geração na vida dele e no mundo, mas também percebe que algumas daquelas reivindicações se deturparam. A pseudoliberdade que se instaurou no mundo moderno tem suas mazelas.
Luciano, hoje como ontem, não economiza munição. Para ele, eventos como a Casa Cor servem como exemplo de deformação absurda. “Dá nojo pela ostentação diante da realidade brasileira. É uma elite econômica que não tem nada a ver com a realidade social do País.”
Liberdade sexual, divórcio, filhos, estudos, teatro, alimentação vegetariana, independência. Essas são algumas das mudanças ocorridas na vida da terapeuta paulista Tai Castilho, em um período em que reviu todos os seus ideais. Para ela os caminhos indicados vieram na forma de mudanças comportamentais e na absorção de novos costumes radicais para a época.
Moça vinda do interior de São Paulo para viver na cidade grande, buscava uma vida certinha, em que as coisas caminhassem nos eixos, já que dentro de sua própria casa não era bem assim. Em 1964, se casou, para sair da casa dos pais e tentar construir sua vida ideal. Sua casa era esconderijo dos livros proibidos pela ditadura Vivia um casamento tradicional e resolveu estudar. Entrou para um cursinho pré-vestibular no centro de São Paulo, quando passou a ter um contato mais direto com os movimentos estudantis.
Com uma filha de 2 anos e um filho recém-nascido, marido médico, Tai começou a perceber um mundo diferente do seu. Emocionante e, ao mesmo tempo, aterrorizador. “Era muito comum pessoas próximas sumirem da noite pro dia. Anos depois de estudar com uma menina, vejo papéis com o rosto dela estampado em todos os cantos, com os dizeres: ‘Procura-se!’. Professores do cursinho desapareciam para nunca mais voltar”, conta ela sobre o seu primeiro contato com o mundo da clandestinidade e da luta armada.
Entrou para um grupo vindo do Teatro Oficina, passou a freqüentar os ambientes juvenis e da classe teatral, os bares da Rua Maria Antônia, mas revela: “Ao mesmo tempo em que eu estava querendo constituir família, ter um lar agradável e certinho, havia em mim um desembaraço juvenil”. Sua vida de aprendiz de atriz durou pouco, já que era uma realidade escondida da família e seus colegas do teatro não imaginavam como ela vivia ao atravessar a porta da rua. “As pessoas que faziam teatro eram malvistas pelas famílias tradicionais” e, nas coxias e nos palcos, era considerado caretice ser casada da forma que ela era. “Eu era simpatizante da causa, mas, por ter filhos, guardava em mim um medo silencioso. Em 1970, nasceu o terceiro, ainda do mesmo casamento.”
Por tudo isso, a aparência insuspeita de sua casa acabou transformando-a em esconderijo dos livros proibidos pela ditadura. “Não podíamos ter obras de Marx, Engels, Lenin, Che ou qualquer outro autor comunista.” Após 1968, ela entrou para a faculdade de fonoaudiologia e participou de movimentos estudantis. Era amiga de Vladimir Herzog, um dos mártires daqueles tempos negros, morto nos porões da ditadura. Depois disso, virou vegetariana, passou a usar saias longas, cabelos muito compridos e os filhos foram estudar na antroposófica escola Rudolph Steiner, de pedagogia Waldorf.
Tai Castilho é de uma geração em que se escolhia entrar de cabeça no radicalismo da política ou no desbunde comportamental. O desapego às normas do sistema urdiu uma geração criadora e ativa. Acabou indo viver a contracultura e a militância com uma geração seis anos mais nova do que a sua.
Acabou indo viver a contracultura e a militância com uma geração seis anos mais nova do que a dela. “Eu queria ser uma intelectual de esquerda, uma desbundada, uma sem-lenço e sem-documento, mas em 1971 me vi acabando a faculdade com três filhos pequenos e separada. Ao mesmo tempo em que queria dar conta da maternidade, uma coisa fascinante para mim, existia a liberdade sexual que tanto me dava prazer.”
Tai nunca foi muito bem aceita em nenhuma das tribos que freqüentava, por conta da sua dicotomia, sua contradição vital. E foi se distanciando do partidarismo do movimento: “A esquerda partidária lidava bem mal com a questão da sexualidade e das drogas”. Com um olhar iluminado pelos 40 anos passados, a terapeuta que se especializou, não por acaso, em famílias e casais, conclui: “As nossas reivindicações foram se realizando por entre as brechas do sistema e dando outras cores para o mundo tão sectário e segmentado da esquerda versus direita. A minha geração foi muito reprimida sexualmente, a de minha mãe nem se fala. Usufruíamos dessas mudanças ainda com muito medo – o que mudou muito para as gerações seguintes. Foi o nosso legado”.
Depois da separação, enquanto cursava a faculdade, Tai mudou-se para uma casinha na Vila Beatriz, então um bairro popular de São Paulo, com os filhos e muitas coisas novas na cabeça. Começou a se libertar de sua permanente dicotomia e passou a viver a liberdade com as crianças. “Nesse momento, os fantasmas da moral eram um pouco exorcizados, as crianças viviam peladas pelo jardim, os vizinhos se aproximavam, era uma delícia.” Desvencilhou-se dos seus ideais de família tradicional e, com isso, começou a se especializar nas relações da família moderna.
Sou um homem sem raiz. Me vi sempre como um retirante nortista classe média, de família pequeno-burguesa: mãe professora, pai funcionário público, duas irmãs, todos nascidos no Maranhão. A certa altura me vi no Rio e depois, durante 13 anos, vivendo em várias cidades do sul de Minas. As raízes soltas ao vento. Não sei dizer se isso foi bom ou ruim para a minha formação humanística.
Medir as palavras me fez deixar de ser nortista e virar mineiro
Às vezes, o descompromisso com tribos ou comunidades pode provocar uma espécie de frieza nas relações. Ou carência e dependência. Não entrava em conversa sem antes saber muito bem o que estavam dizendo, quem estava falando. Medir palavras e gestos me fez deixar de ser nortista e virar um típico mineiro. Isso favoreceu a amizade que, apesar do tempo e da distância, sei que ainda cultivamos – os amigos e eu – na nossa memória afetiva.
De Barbacena assisti ao golpe de 1964. Com As Palavras, de Sartre, numa das mãos e O Púcaro Búlgaro, de Campos de Carvalho, na outra, tentava antever o que aconteceria depois daquilo. O vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, em 1965, foi o passaporte para a minha iniciação prática na política, no materialismo histórico e dialético, procurando entender o que era a mais-valia, a luta dos contrários e a inexorável vitória do proletariado sobre a burguesia.
Os dias passavam cheios de sonhos, utopias, revoluções, imperialismo ianque, sovietes, ouro de Moscou, Guerra Fria, teorias políticas, confrontos armados, policiais nas ruas, torturas, prisões, medo, gritos de ordem e desordem, sirenes cruzando as avenidas do centro da cidade. Quero crer que 1968 foi o ano mais violento de todos. Quebra-quebra, cadáveres aparecendo nos jornais, estudantes atropelados pela cavalaria, o Calabouço, modesto restaurante de estudantes, se transformando em símbolo da repressão, da ditadura, da intolerância e do terror. O Estado se transformara em terrorista. Os terroristas em vítimas. No meio disso, jovens gritando por melhores escolas, abaixo a ditadura, viva o povo brasileiro, o povo no poder e outras palavras que surgiam aqui e no mundo inteiro.
Aqui, 1968 não proporcionou um bom encontro entre estudantes e operários. Trabalhadores brasileiros rejeitavam os cabelos grandes, os óculos redondos, as barbas por fazer. Éramos comunistas, agitadores, ateus. Nas portas das fábricas nos atiravam palavrões na cara. Se para o País e para os brasileiros revoltados, 1968 foi o ano terrível, para mim, janeiro de 1971 foi o ano do horror. Preso em Santa Teresa, em companhia de um amigo, dentro de casa, desapareci por dez dias. Literalmente eu sumi nos porões da ditadura.
Choques elétricos e espadas zunindo sobre minha cabeça
Quando consegui ser libertado, tomei o rumo do auto-exílio e durante dois anos perambulei por uma Europa tomada de hippies, drogas, sexo e rock-and-roll. Meus sonhos não morreram, mudaram apenas. Tornaram-se, de alguma maneira, mais frágeis e mais solitários. Em Londres, em Paris, em Estocolmo, em Lisboa, em Bruxelas, vi passar diante de meus olhos belíssimos seres humanos, imundos e com barbas sujas, em busca de um banho, de uma cama para descansar os ossos, de um bálsamo para as feridas que não eram apenas suas, eram de tempos imemoriais.
Depois, percebi que as pessoas passaram a se isolar. A arte se individualizou. A constatação era a de que o mundo se tornara para sempre capitalista. Perdemos a guerra, nós, que acreditávamos na revolução, na sociedade justa e igualitária. A ditadura política e ideológica deu lugar à ditadura do dinheiro. Uma ditadura sem cara, sem rosto, sem grupos contra os quais pudéssemos lutar. A luta pela sobrevivência me fez crer que eu era mais capaz de viver bem do que eu mesmo pensava que era.
Durante alguns anos me dediquei a uma vida alternativa, simples, morando no campo, escrevendo para meu próprio deleite e umbigo. Virei um outsider, um marginal do bem, à margem de qualquer coisa que o sistema pudesse oferecer. Aguardei ansiosamente a passagem dos cometas que iriam mudar o rumo das coisas. Qual o quê! As coisas só pioraram.
De artesão, escritor inédito, me transformei em publicitário e poeta medianamente conhecido em Minas. Fui diretor de redação da Revista Palavra, juntamente com Ziraldo e uma turma de jovens e nem tão jovens assim, talentosos e de almas gigantescas. Naquele período em que convivi com o terror atrás das paredes, os choques elétricos e as espadas zunindo sobre minha cabeça em passeatas pelo centro do Rio, senti a presença permanente de Jean-Paul Sartre, um anjo a proteger minha consciência para que eu não sucumbisse ao comodismo. Sartre foi e tem sido a minha maior influência.
De lá pra cá, minha cabeça mudou pouco. Procurei me desvencilhar das inutilidades do pensamento, amei meus filhos mais do que a mim mesmo, da minha mulher de então guardo lembranças amorosas e rancorosas – como todos os casais do mundo – e hoje, aos 60 anos, voltei a me apaixonar. Com isso, acho que rejuvenesci alguns anos, o suficiente para assistir, talvez, ao nascimento de uma nova geração, de um novo homem, como queria Guevara.
Difícil? Sim, é dificílimo, se levarmos em conta a tendência do mundo e do Brasil. Mas nada é em vão e nada do que aconteceu no mundo nos primeiros anos dos últimos 40 foi em vão. Porque 40 anos depois ainda consigo respirar a liberdade daquela época, o burburinho de uma juventude e de uma geração inquieta, irrequieta, rebelde com causa. Desse tempo ficou a cicatriz que acaricio toda vez que o vento do comodismo busca me fazer ficar de joelhos diante de um mundo injusto e cruel.
Sei que faço pouco para mudar o mundo, mas sei que me recuso a aceitar um mundo que se tornou imune às mudanças. Um mundo que se tornou medíocre, mesquinho, violentamente covarde. Um mundo onde os heróis são aqueles que saem do nada e se dão bem na vida: jogadores de futebol, campeões de Fórmula 1, campeões de tênis. Ou então aqueles que se exibem nas TVs e viram celebridades. E atiram palavras ocas para a multidão embevecida. Este é o mundo que venceu. Eu era do mundo que perdeu.